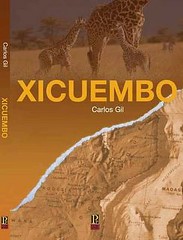domingo, julho 30, 2006

Já há mais dum mês que aposto 5€ contra 6 em como o M. Schumacher ganha mais este campeonato. Hoje subo para seis-seis, acreditando que só para o próximo ano é que é aposta de elevado risco.
o regresso da alta costura






Belos tempos houve em que se comprava um automóvel em duas fases: no construtor o conjunto chassis-motor, depois ia-se ao 'costureiro' fazer a carroçaria segundo desejos e amores. Nasceram assim muitos modelos únicos, então motivo de vaidade e orgulho para os proprietários e hoje das peças mais belas das colecções dedicadas a essa 'coisa' que, além de prática, pode ser bela como poucas o são: o automóvel. Reporto-me às décadas de vinte, trinta, do século finado.
Sempre houve "edições especiais", produções de fábrica com número limitado de exemplares que, assim, conferem aos donos a exclusividade limitada e a mais-valia do seu investimento. Ferrari, Maserati, Porsche, Aston Martin, Lamborghini, são das marcas mais conhecidas que usam o 'estratagema' para orlarem os balanços com números engraçados: veja-se o caso do muito recente Ferrari FXX, vendido (lá fora...) a milhão e meio de euros a unidade, antes de taxas fiscais, cuja produção de somente 20 exemplares esgotou num ápice após ser revelado. Sim, há outros que custam isso e até mais, Bugatti Veyron e mais alguns, mas o FXX tem características sádicas para o proprietário: não foi homologado pela fábrica para circular em estrada nem é por ela autorizado a participar em corridas. Ou seja: ao dono-piloto resta-lhe expô-lo na sua casa - como obra de arte que é - ou alugar a pista que lhe dê mais jeito para dar umas voltinhas com os amigos. Claro que com tais limitações a maioria dos vinte felizardos optou por deixá-los em Fiorano e quando lhes calha dão lá um salto para, assessorados por técnicos do 'cavallino rampante' e, com sorte, com lições ao vivo dum dos pilotos de Fórmula 1 da casa, dar umas ricas voltas no circuito particular da fábrica. Porém o seu FXX tem dezanove irmãos, tal como o Maserati MC12 tem trinta e tal, o Carrera GT da Porsche somou quatrocentos e o SLR McLaren da Mercedes-Benz ainda mais, o Murciélago da Lamborghini soma e segue, etc, etc...
Recentemente surgiu uma 'bomba' nos sites especializados no belo tema: com inspiração no belíssimo Ferrari P4 que passeou as suas dengosas linhas nas pistas mundiais dos anos 60's, o atelier Pininfarina produziu uma jóia única para um cliente americano, James Glicklenhaus, dos tais também peças únicas: além de endinheirados também com bom gosto: o Ferrari 612 P 4/5, esse das três primeiras fotos e das que se vêm após aberto o link. Poucos meses antes a casa Zagato, para um 'colega' japonês do americano, Yushiyuki Hayashi, produzira outra peça única, o Ferrari 575 GTZ (o das últimas três fotos, mais as que se vêem clicando no link)
Sei do orgulho de quem tem em casa um Renoir ou um Van Gogh autênticos, coisa que para além dos muitos milhões que custam dão especial prazer em vê-los pendurados na 'nossa' sala: sei-o pois eu tenho 'Carlos Gil' autênticos, também eles peças únicas, prazer à minha medida pois não tendo milhões nem vergonha pintei-os eu próprio. Dos exemplos pintados retiro ilacção para os rolantes apresentados. Do gosto que será por as mãos no volante destas jóias ou só olhá-los, do lugar que obtêem por virtudes próprias e pelo parto singular na galeria da História do Automóvel, la bella machina, estatuto possível pelo regresso dos costureiros de carroçarias únicas, dispendiosa espécie que se julgava extinta. Felizmente não, e o futuro agradece: a nossa época automóvel será retratada com mais beleza por acção destes artistas e com a benção destes magnates, em proveito próprio é verdade, mas mesmo assim mecenas autênticos da arte de carroçar automóveis únicos.
Bem, já falei do meu gosto, meu prazer muito solitário. Agora hesito se vou pintar mais um quadro ou se vou a uma loja chinesa (nunca fecham!) comprar mais umas ferramentas: estou a pensar um dia destes começar a construir o meu automóvel único: James Glicklenhaus e Yushiyuki Hayashi merecem companhia e nem Pininfarina nem Zagato me amedrontam: no máximo inspiram-me.
quarta-feira, julho 26, 2006
Israel, Israel...

O 'último' conflito israelo-árabe (nosso, também!) aqui, depois aqui explicado porque também é nosso. Para quem gosta de assistir a diálogos em volta do tema, sempre interessantes: uma voltinha por aqui (há mais de uma página de mensagens, no fim de cada uma há que clicar em 'próximo')
(sei onde gamei a foto mas não se deve fazer publicidade a jogos bélicos)
Aula de leitura (vocabulando confissões)

Já li muito mais do que agora. Porque não havia Internet e antes dela a leitura e alguns ócios ocupavam o seu tempo de hoje, também porque não sou o mesmo que era, provavelmente também pela idade: tenho a paciência modificada. Hoje, em que já não tenho tempo para os policiais e thrillers que colam cirurgicamente insónias a cérebros esponjas de heróis e mundos de aventuras, demoro-me muito mais nas linhas, nas frases, por arrasto nas ideias quando delas hajam-nas interessantes, ao raciocínio que as escreve, ao extraordinário que é construir um romance, escrever as ideias que o fazem ir nascendo quadro a quadro. Também à forma, pois claro: tenho sonhos que sobreviveram à fase das ilusões e neles está o melhor do que sobrou.
Continuo a comprar livros com regularidade mas há muitos mais que vão directos para as estantes do que antes acontecia, por não lhes ver especial atractivo que me leve a alterar outras coisas que faço, rotinas ainda prioritárias: um dia terei pachorra e, então, pegarei neles com uma década de atraso à multidão. Por exemplo, comprei “O código da Vinci” por estar em saldos num hipermercado, promoção da quinzena junto com o bacalhau crescido da Noruega, os chapéus-de-sol para a praia e outras magníficas oportunidades: mergulhou directo nas lonjuras das filas em pó preservadas, ideal para uma pacata reforma de tudo e o Grande Tempo, esse ócio final que há que consumir sem olhar a níveis de colesterol e diabetes, for a minha derradeira fortuna. Se um dia for preso levo-o comigo; isso e uma vontade férre em deixar de fumar.
Vem a propósito do que ando a ler, o último livro do grande Mia Couto: “O outro pé da sereia”, como sempre na ‘Caminho’ (foto gamada aqui). Se passeio pelas folhas fascinado pelas montras que me dão, se as personagens se entranham e delas nascem eus e eu sou eles, mergulho nas identidades e acarinho as tantas empatias que nascem (obrigado Mia: é tão bom ler o com que nos identificamos, e leitor-personagem abstraem-se do mais e Vivem concubinos na leitura…: e consegue-lo, eu senti-o), logo ao fascínio nasce a tristeza e pouso-o, para reflectir na redescoberta duma verdade que me é triste por selo autenticador de desilusões: eu não sou capaz de escrever assim, um romance, na minha pressa de ‘escritor da net’, posts de blogues e quejandos, já tinha rematado com dois lacinhos a estória e ficava satisfeito com o resultado, mais ainda se fosse em momento afortunado que desse uma escrita tão bonita como a que o Mia, mais meia dúzia de páginas em outra meia dúzia, dá a ler e delicia quem as lê. No prazer do leitor a obra alheia está a frustração dele, escritor, quando vê e percebe que nunca conseguirá fazê-lo ‘assim’, que não passa dum pintor naif e amador, para sempre meia dúzia de amigos e outra de desconhecidos que o lêem.
Neste, e para já (já ultrapassei um bom bocado o meio), acho que o autor buscou outros caminhos de escrever e saiu contido no seu reinventar da Língua, a tal já velha menção quando se refere a obra de Mia Couto: a outorga pela escrita de novos vocábulos já existentes no linguarejar popular, além dos muitos por certo por si criados com a alegria malandra de quem dum lego brinca à construção dum universo-brinquedo, fugindo à bocejante figura prevista ao construir peça a peça, palavra a palavra, universos novos em palavras novas, tão simples, tão lógicas e naturais que nos espantamos em como antes não tinham sido lembradas, escritas, registadas. É o seu fascínio e a ele, Autor, também alguma coceira trará pois ele sabe que, cada livro novo, cada texto novo, há sempre uma grande curiosidade no seu leitor, até expectativa, em que novas fórmulas haverá para numa palavra só explicar o insondável do antes relatado em complicados adjectivos e fórmulas ‘clássicas’: restar-lhe-á sempre a vontade de surpreender (e surpreender-se?) no “fazer da outra forma”(*) e, também, agradar: talvez como o actor de cinema que demais veste o mesmo personagem e, um dia, busca a afirmação fora dele.
Neste romance a escrita do Mia é por aí mais contida: o retrato popular, feliz, é descrito em forma tão escorreita, tão fluida, que os tais verbos ‘novos’, as palavras reinventadas, surgem com a naturalidade dos momentos em que eles são os únicos lá capazes, e não existem muitos que façam soltar a gargalhada “mas este! o que ele se foi lembrar! eheh”: há óbvia evidência na sua utilização e segue-se o texto sem que a “nova palavra” em muito dele desvie atenções: romance bem esgalhado, e não ele e mais meio ensaio linguístico. Consegue-o, se é o desejado emancipa-se e a escrita universaliza-se no padrão da língua comum, trejeitos locais e pessoais preservados com gosto e arte, mas mais escorreita dos tais ‘carimbos’ pessoais da obra anterior.
Voltando ao romance que leio: como disse eu agora sou um leitor lento, seja do que for. Acresce que os livros do Mia Couto, habitualmente, passeiam na mesa de cabeceira, no porta luvas do carro, a tal reinvenção da língua costuma fazer-me demorá-los com devaneios em volta duma expressão, mais além do narrado, a trama e os seus cheiros seguidos mas em concorrência com o abismar paralelo, o cavalgar as vias abertas por uma escrita que tem momentos em que se sobrepõe em interesse ao enredo quase página a página. Por isso os livros do Mia sempre foram degustados mais vagarosamente, mesmo no tempo em que era um glutão e lia meio metro de livros por mês. Zero Madzero e o burro N’bomgolo, a ninfa Mwadia, Zeca Matambira o barbeiro boxeur, Justiniano Rodrigues o goês alfaiate reformado, Dia Kumari e Nsundi, viajantes do futuro... as personagens encavalitam-se nas folhas e em mim, entrecruzam emoções, sentires, invejo-as pois na sua simplicidade está a felicidade: o Autor fez(-me) um livro que se apoderou de mim, leitor, magnânimo deixou-me entrar nas páginas e, nas personagens, viver lendo o mundo perfeito de Vila Longe, etéreo viver porque simples.
Agora vou parar de escrever e voltar à (sua) leitura, minha maior homenagem a um livro, outra escrita, um escritor: "thanks Mia, you did it again!"
(*) tenho resistido a tentar editar um ‘Xicuembo 2’ por menores razões mas parecidas, porém sem ter sido capaz de criar alternativa editável: ainda não consegui ‘libertar-me’ da crónica e do conto, do vício do texto curto, alongar tramas para fazer nascer ‘um romance’… fico danado quando penso que serei sempre, só, um contador de histórias!
Continuo a comprar livros com regularidade mas há muitos mais que vão directos para as estantes do que antes acontecia, por não lhes ver especial atractivo que me leve a alterar outras coisas que faço, rotinas ainda prioritárias: um dia terei pachorra e, então, pegarei neles com uma década de atraso à multidão. Por exemplo, comprei “O código da Vinci” por estar em saldos num hipermercado, promoção da quinzena junto com o bacalhau crescido da Noruega, os chapéus-de-sol para a praia e outras magníficas oportunidades: mergulhou directo nas lonjuras das filas em pó preservadas, ideal para uma pacata reforma de tudo e o Grande Tempo, esse ócio final que há que consumir sem olhar a níveis de colesterol e diabetes, for a minha derradeira fortuna. Se um dia for preso levo-o comigo; isso e uma vontade férre em deixar de fumar.
Vem a propósito do que ando a ler, o último livro do grande Mia Couto: “O outro pé da sereia”, como sempre na ‘Caminho’ (foto gamada aqui). Se passeio pelas folhas fascinado pelas montras que me dão, se as personagens se entranham e delas nascem eus e eu sou eles, mergulho nas identidades e acarinho as tantas empatias que nascem (obrigado Mia: é tão bom ler o com que nos identificamos, e leitor-personagem abstraem-se do mais e Vivem concubinos na leitura…: e consegue-lo, eu senti-o), logo ao fascínio nasce a tristeza e pouso-o, para reflectir na redescoberta duma verdade que me é triste por selo autenticador de desilusões: eu não sou capaz de escrever assim, um romance, na minha pressa de ‘escritor da net’, posts de blogues e quejandos, já tinha rematado com dois lacinhos a estória e ficava satisfeito com o resultado, mais ainda se fosse em momento afortunado que desse uma escrita tão bonita como a que o Mia, mais meia dúzia de páginas em outra meia dúzia, dá a ler e delicia quem as lê. No prazer do leitor a obra alheia está a frustração dele, escritor, quando vê e percebe que nunca conseguirá fazê-lo ‘assim’, que não passa dum pintor naif e amador, para sempre meia dúzia de amigos e outra de desconhecidos que o lêem.
Neste, e para já (já ultrapassei um bom bocado o meio), acho que o autor buscou outros caminhos de escrever e saiu contido no seu reinventar da Língua, a tal já velha menção quando se refere a obra de Mia Couto: a outorga pela escrita de novos vocábulos já existentes no linguarejar popular, além dos muitos por certo por si criados com a alegria malandra de quem dum lego brinca à construção dum universo-brinquedo, fugindo à bocejante figura prevista ao construir peça a peça, palavra a palavra, universos novos em palavras novas, tão simples, tão lógicas e naturais que nos espantamos em como antes não tinham sido lembradas, escritas, registadas. É o seu fascínio e a ele, Autor, também alguma coceira trará pois ele sabe que, cada livro novo, cada texto novo, há sempre uma grande curiosidade no seu leitor, até expectativa, em que novas fórmulas haverá para numa palavra só explicar o insondável do antes relatado em complicados adjectivos e fórmulas ‘clássicas’: restar-lhe-á sempre a vontade de surpreender (e surpreender-se?) no “fazer da outra forma”(*) e, também, agradar: talvez como o actor de cinema que demais veste o mesmo personagem e, um dia, busca a afirmação fora dele.
Neste romance a escrita do Mia é por aí mais contida: o retrato popular, feliz, é descrito em forma tão escorreita, tão fluida, que os tais verbos ‘novos’, as palavras reinventadas, surgem com a naturalidade dos momentos em que eles são os únicos lá capazes, e não existem muitos que façam soltar a gargalhada “mas este! o que ele se foi lembrar! eheh”: há óbvia evidência na sua utilização e segue-se o texto sem que a “nova palavra” em muito dele desvie atenções: romance bem esgalhado, e não ele e mais meio ensaio linguístico. Consegue-o, se é o desejado emancipa-se e a escrita universaliza-se no padrão da língua comum, trejeitos locais e pessoais preservados com gosto e arte, mas mais escorreita dos tais ‘carimbos’ pessoais da obra anterior.
Voltando ao romance que leio: como disse eu agora sou um leitor lento, seja do que for. Acresce que os livros do Mia Couto, habitualmente, passeiam na mesa de cabeceira, no porta luvas do carro, a tal reinvenção da língua costuma fazer-me demorá-los com devaneios em volta duma expressão, mais além do narrado, a trama e os seus cheiros seguidos mas em concorrência com o abismar paralelo, o cavalgar as vias abertas por uma escrita que tem momentos em que se sobrepõe em interesse ao enredo quase página a página. Por isso os livros do Mia sempre foram degustados mais vagarosamente, mesmo no tempo em que era um glutão e lia meio metro de livros por mês. Zero Madzero e o burro N’bomgolo, a ninfa Mwadia, Zeca Matambira o barbeiro boxeur, Justiniano Rodrigues o goês alfaiate reformado, Dia Kumari e Nsundi, viajantes do futuro... as personagens encavalitam-se nas folhas e em mim, entrecruzam emoções, sentires, invejo-as pois na sua simplicidade está a felicidade: o Autor fez(-me) um livro que se apoderou de mim, leitor, magnânimo deixou-me entrar nas páginas e, nas personagens, viver lendo o mundo perfeito de Vila Longe, etéreo viver porque simples.
Agora vou parar de escrever e voltar à (sua) leitura, minha maior homenagem a um livro, outra escrita, um escritor: "thanks Mia, you did it again!"
(*) tenho resistido a tentar editar um ‘Xicuembo 2’ por menores razões mas parecidas, porém sem ter sido capaz de criar alternativa editável: ainda não consegui ‘libertar-me’ da crónica e do conto, do vício do texto curto, alongar tramas para fazer nascer ‘um romance’… fico danado quando penso que serei sempre, só, um contador de histórias!
Freitas do Amaral (e o "Hóquei Clube Os Tigres de Almeirim")
 Acompanho na rama a política interna e pior ainda a externa: quer em blogues quer em jornais, por fastio e desilusão, actualmente à maioria das notícias pouco vou além dos títulos. Isto para dizer que não tenho opinião de ‘leigo informado’ sobre o consulado Freitas do Amaral neste governo e no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Fica-me uma luzinha acesa, a de que essa coisa abominável chamada ‘real politik’ andou mais vezes arredia das sombras daquele gabinete que nos consulados anteriores: o tamanho da pequenez nacional não calava a primeira voz que se fazia ouvir ‘lá fora’ quando a tal havia razão – incluo a habitual mordaça político-partidária nacional dos ‘compromissos’ e a praga mui lusa do vulgus cinzentismo, o não abrir a boca sem antes pensar nas palavras pessoalmente mais inócuas, mais descomprometedoras atento o mítico e cobarde “sei lá eu o futuro…” Não foi um Scolari porque é um político e, portanto, não lida com massas populares tão abrangentes e participativas como quando se fala de futebol.
Acompanho na rama a política interna e pior ainda a externa: quer em blogues quer em jornais, por fastio e desilusão, actualmente à maioria das notícias pouco vou além dos títulos. Isto para dizer que não tenho opinião de ‘leigo informado’ sobre o consulado Freitas do Amaral neste governo e no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Fica-me uma luzinha acesa, a de que essa coisa abominável chamada ‘real politik’ andou mais vezes arredia das sombras daquele gabinete que nos consulados anteriores: o tamanho da pequenez nacional não calava a primeira voz que se fazia ouvir ‘lá fora’ quando a tal havia razão – incluo a habitual mordaça político-partidária nacional dos ‘compromissos’ e a praga mui lusa do vulgus cinzentismo, o não abrir a boca sem antes pensar nas palavras pessoalmente mais inócuas, mais descomprometedoras atento o mítico e cobarde “sei lá eu o futuro…” Não foi um Scolari porque é um político e, portanto, não lida com massas populares tão abrangentes e participativas como quando se fala de futebol.Esta conversa a propósito da sua demissão de ministro dos NE em que a doença do Homem conciliou-se com o pré-aviso público que o Político, esse eterno diplomata da velha escola, entendeu fazer há tempos atrás. Afinal, algumas coisas que me passam pela cabeça quando leio, penso, ou ouço falar o nome ‘Freitas do Amaral’… De imediato recordo o seu livro de memórias, “O Antigo Regime e a Revolução”, não por ele em si pois é mais um testemunho entre tantos que já há e de alguns possíveis de continuarem a faltar, mas pelo que senti ao lê-lo e, depois, quando ofereci um exemplar a amigos, daqueles por quem a amizade acredita que é seu complemento natural se lhes oferecerem, no caso um que inesperadamente descobrimos e, lendo-os, achou-se-lhe importância suficiente para passar a oferta que é de Amigo (também ofereci um ao meu sogro, mas Sogro é categoria doutra ordem, é estado de vida; e aí a oferta foi lúdica e sem esperança do ‘outro’ lado ser entendido e aceite, seja ele à volta dum penalty, o colonialismo, ou das virtudes de a democracia ser soletrada a várias vozes). Particularmente quando acreditamos, com sorriso largo, que - também eles, eram capazes de passar pelo livro dez vezes seguidas e só o leriam se nele tropeçassem, e, nos entretantos, com ele nas mãos, concluí-se que essa leitura-visão é importante para perceber mais abrangentemente do nosso passado enquanto geração, sentimento que gostávamos de ver comungado por quem apreciamos além dos pessoais percursos muito comuns. E porquê? porque li uma visão que desconhecia além das banalidades teatrais, um livro que em regra também eu não leria pela asnice da cultura política afunilada, o relato honesto duma época em que todos foram simultaneamente Santos e Demónios, conforme a liturgia que se use à benza. Honesto na defesa dos seus valores, notando-se o apaixonado que fala de acontecimentos que pôde e pode conjugar com o pronome mais pessoal de todos, mas ‘sentindo-se’ ao lê-lo que não abusa do aproveitar linhas para rezar missa cantada aos seus amores de militância; esse livro é um depoimento que integro na prateleira dos livros da História recente de Portugal: ganhou esse lugar como documento e se um dia for aberto para consulta sobre Facto não me merece especial receio de credibilidade, do contado não duvido que é ‘a outra’ visão dum acontecimento importante, histórico: tem credibilidade pois além de pormenores cuja ocasional imprecisão casa bem com a sua natureza de livro de memórias acerca de acontecimentos tremendamente polémicos como é uma Revolução, seus golpes e contra-golpes, entrincheirados na grande barca da Ideologia, porões vastos e fascinantes (eu disse ‘pormenores’, não duvido do rigor da essência). A honestidade do relato, os olhos sem os óculos escuros que o medo do Futuro põe a alguns políticos quando vão a retratos eram visíveis, e daí – esse livro, terá vindo a não estupefacção quando, nos anos 90’s, Freitas do Amaral começou a dar voz e prática políticas a uma corrente política natural adversária eleitoral da da sua criação: ele e o CDS dos tecnocratas e arrivistas, muito menos ainda o CDS-PP, radicalizado com o espalhafato tão prezado pelos seus beatos pais e diligentes coveiros, Manuel Monteiro e Paulo Portas.
Na primeira volta das Presidenciais de 1985 votei num candidato qualquer dos que são clientes habituais do carro-vassoura, e na segunda votei Mário Soares. Ele, Freitas, era o Diabo que eu e muitos não queríamos ver na Presidência de Portugal: a Revolução de ’74 estava ainda muito próxima (embora a tenha conhecido já a entrar na ressaca: cheguei a Lisboa em Janeiro de 76) e, acresce, em anos então com esquinas por virar tivera um grande fascínio por pichagens da letra A com uma bolinha à sua volta. Remata o horror de pensar em ter de aturar cinco anos aquela cara de… Freitas: isso assustava e foi a gota de água que pôs a boiar o sapo, refresco por acaso até recomendado e em dose além da gota, aos copos, por uma casa onde nessa época eu ocasionalmente gastava. A finalizar o capítulo “Presidenciais 85” gostei de saber que pagou com honorários do seu trabalho as contas sobrantes da campanha, após rechaçadas pelos partidos seus padrinhos políticos: seja na mercearia ou na política, é assim que se deve agir: “pay the bills”, se elas forem justas.
……………………………………
Lembro-me agora – e abro o parêntese pois merece ser contado, que uma única vez estive ao pé do Prof. Freitas do Amaral e, pondo-se uma questão de legalidade sobre se a minha presença numa prova académica seria aceite ou recusada, o seu veredicto foi-me negativo. Nunca contestei veementemente a decisão, pessoalmente tomada por ele, para além da ironia que não podia ser desaproveitada: representava-me com a sua presença institucional a famigerada e odiada “pata do Estado sobre o Cidadão, coitado dele vítima do (abuso de) Poder”. Indo mais fundo, o próprio Freitas, naquele momento, simbolizava-me em carne, osso, papada e óculos, o monstro Estado… Mas não me ficou qualquer amargo pendente pois ele, Freitas, agiu correctamente: vigiava a legalidade e eu era o prevaricador, eis os factos simplificados. Conto, portanto:
Na altura, julgo que fins de setentas e princípio de oitentas, eu aspirava em entrar para a faculdade pois achara em mim um inesperado e fora de época gosto em estudar. Tinha um problema que só vim a resolver em serões do ensino pós-laboral no final dessa década, a de 80: ‘antes’, o ensino médio terminava no ‘7º ano’ e fazia-se a admissão à Faculdade ou ficava-se por ali. Então, já, para ingressar no superior faltava um degrau que me era novo, o 12º ano escolar; também houve o Ano Propedêutico, mas acho que não coincide com a época que estou a retratar. Havia, como ainda há segundo penso, uma oportunidade extra, um funil com um buraquito onde eu me sentia com legítimas esperanças vir a caber: o exame ad-hoc, com análises de decisão em muito suportadas pela cultura do candidato e na sua capacidade de expressar ideias com coerência. E lá me inscrevi e no dia do exame rumei a Lisboa, à Clássica, à Faculdade de Direito que era a menina que me fazia sentir aguado e a quem queria, então, acariciar os saberes.
Apressando a memória e indo ao que interessa e a liga ao Prof. Freitas do Amaral: é natural que os examinandos se tenham de identificar para a prova, e também o é que num país que adora papéis com números e carimbos ‘oficiais’ o sacrossanto Bilhete de Identidade fosse a natural exigência. Também é (era? é?) natural que eu me esquecesse de o trazer comigo no dia menos certo para tal, sendo triste realidade que na aventura da revolução moçambicana aprendera que uma relação profundamente empática e chegada com ele, BI, pode ser muito saudável face aos potenciais imprevistos da alternativa. Ora bem, não levava o BI e o problema explode nas mãos do ‘fiscal’ após, lista na mão, ter passado em secretárias onde se viam os quadradinhos de plástico reluzente expostos, antes e em boa voz pedidos. A surpresa dele com o (plastificado) que eu lhe exibi, o ‘não pode!’ que é sempre a primeira reacção quando a anormalidade aparece, depois havia eu que vinha com a corda toda ligada para argumentar com cultura e as ideias expressas com coerência, expondo, orgulhoso da sua dignidade, um cartão que tinha o meu nome e a minha fotografia, - plastificado!, cromaticamente muito diferente dum habitual “Bilhete de Identidade” mas emitido por uma entidade que é óbvio só poder ser reputada como inegavelmente credível: o cartão de sócio do Hóquei Clube ‘Os Tigres’, nobre e eclética colectividade de Almeirim. O talão da quota não estava exactamente com o mês actualizado mas, aprestei-me em vincar, essa era matéria estranha à em causa e irrelevante para dela achar mérito: a cara do macaco era a minha, eu dava pelo nome, e até sabia assinar: eu era eu – dito pelo próprio e confirmado pelo ‘Os Tigres’, associação civil nascida já na democracia e de méritos sociais de relevo, incluso com ilustres juristas nos seus corpos gerentes (na altura era a melhor ‘casa de batota’ da zona e, sabe-se, advogado que se preze adora uma boa cartada).
Obviamente que ‘ele’ tinha imensas dúvidas face ao inesperado e contrário ao programado, e tinha medo de decidir havendo oposição, pois, afinal, estava ali como fiscal e não como sociólogo ou perito do que quer que fosse. E veio ainda outro, foi-se juntando o habitual montinho de opinantes, chegou a hora do exame e o que acontecia naquela sala era que eu prestava prova de uma forma que não estava regulamentada: ao vivo e a cores, ad-hoc em relação ao programado exame oficial.
Terá sido muito provavelmente pelo iminente atraso de início do exame naquela sala, mas o F. Amaral apareceu a saber de novas: ele era o responsável máximo pelo exame de acesso àquela Faculdade, onde então já era um docente prestigiado. O resultado dessa oral foi-me inglório: chumbei, ele chumbou-me, desvalorizou a minha argumentação sobre o plastificado e declarou inválida a minha prestação escrita. Verdade seja dita que a sua lente examinadora, de mim e do meu cartãozinho plastificado, não me permitiu estender muito as asas e desfiar argumentos, como os então já só assistentes antes fizeram, e ordenou ao silêncio as hesitações que eu ad-hoc conquistara ao ‘seu lado’: aquele cartão identificava-me num círculo restrito e para efeitos específicos, eles curtos perante o global da sociedade quando esta, pelo Estado que a representa, decreta a identificação do Indivíduo pelo meio geral e de posse obrigatória; e ele, responsável máximo pelo Exame, não prescindia de saber, foto, número e carimbos, se eu era mesmo eu, além de presumivelmente gostar de hóquei em patins e, talvez, de jogar às cartas.
Como não abdiquei da minha razão e o cartão mais bonito me ia parecendo conforme por ele argumentava, foi-me autorizado ficar na sala e fazer a prova escrita, previamente informado de que não seria avaliada. Tive curiosidade em saber do carimbo oficial que a minha prestação merecera e quando saíram os resultados fui saber de mim: fora dado como ausente: “não compareceu”.
Foi giro. Desde a primeira hora que o episódio trás-me um sorriso quando o lembro: casou bem com a, então, ‘minha época’. Atrasou a minha “formação académica” pois só anos mais tarde fiz o ano-lapso em falta e abordei a Faculdade de Direito; adianto que sem glória e tempo para mais que uma ou duas estórias mas foi uma tentativa que gerou memória, essa nossa História pessoal.
……………………………………………..
Depois houve a ONU, aquela casa grande onde os de fora é que mandam, em cargo muito ‘manchetes’ mas politicamente de segunda linha na mesa das decisões internacionais, mas dele, exercício, não sobraram escândalos ou registo de borradas pessoais; o que, àquele nível, entra naturalmente no saldo dos balanços positivos. Mais tarde veio a crise do Iraque, a do Bush-filho, e meia dúzia de caneladas que pregou onde ninguém dele as esperava; e o meu respeito pela sua honestidade intelectual recresceu.
Já no governo Sócrates e aureolado como se duma estrela conquistada no defeso futebolístico fosse, esse brilho tê-lo-á em certa altura levado a sonhar com um anti-85 e, como “topo de gama” consensual dos seus antigos algozes, ser eleito Presidente da República. Terá existido pois leram-se sinais, ténues esbracejares silenciosos de “eu estou aqui”, mas houve o comum bom senso que o evitou, discernimento da esquerda que se gastou porém aí, faltando depois em doses maciças à candidatura do seu para sempre eterno compére, Mário Soares. Fez 'borradas' personalizadas enquanto MNE, claro que fez, os 'cartoons' islâmicos e mais umas coisitas. Qual o ministro deste país que não as faz? é quase... sina inerente e natural ao cargo.
Quis com isto dizer que mesmo nunca tendo votado nele aprecio e respeito Freitas do Amaral. Se o Homem diz que lhe doem as costas e não pode continuar a trabalhar assim, eu acredito. Se o Político fez a sua viagem pessoal da direita para a esquerda (ele dirá que dum centro para outro, são visões...), eu respeito igualmente e até me congratulo. Quis com isto dizer que Freitas do Amaral é um político que não me envergonha e até digo mais: muitos outros como ele houvessem, intelectualmente honestos e assim despegados das guerrinhas e tricas laricas, que o luso cenário político não era o que é, deprimente, e desconsoladoramente tão 'políticamente correcto'.
Este post vem atrasado: foi iniciado no princípio do mês mas pelas sempre poderosas razões que nada valem mas adiam as coisas importantes, só hoje foi acabado. Atraso que se soma ao outro, o de há mais tempo dever ter dito publicamente do meu respeito por ele, do meu aplauso à postura e coerência.
(caricatura gamada aqui)
podridão

Não venho a correr dar o meu 'bitaite' acerca do "caso Mateus" com receio de a decisão ser célere. Nada disso. Sei e sabemos que, se ela se tem arrastado, mais ainda o fará: nós, lusos 'amantes' de bola e de justiça somos especialistas nestas coisas de fazendo nada fazer, mais ainda em parir acórdãos e sentenças que envergonham quem usa a cara descoberta.
Mas quero deixar bem claro que eu sou mais a favor dos encolhimentos que dos alargamentos: não vejo qual é o problema do campeonato ter excepcionalmente um número ímpar de participantes, esta semana folgo eu e na próxima és tu. Desçam os dois, Belenenses e Gil Vicente: é a única decisão decente pois se um perdeu em campo, o outro conseguiu o feito pelo xico-espertismo.
Assina um pastel de Belém, orgulhoso de coisas que não quer perder.
(a foto, encontrada numa busca sob o mote "podridão", estava neste blogue)
terça-feira, julho 25, 2006
bricolages...


Há tarefas na vida que um Homem tem de completar após o mau momento de lhes ter empenhado mãos, prestígio, honra: por vezes tudo começa num momento de consumismo impensado, noutras é por via dum presente irreflectido mas bem intencionado - foi o caso...
Minha irmã, recém solteira e na fase de materialização de sonhos adiados por anos excessivos, anda a redecorar o ninho, um quadro aqui, uma almofada acolá, que lindo que isto ficaria e até está barato, enfim compra o que pode e o que nem precisa nem lhe serve, neste último item incluí-se o meu mais recente legado: um armário de casa-de-banho que, por certo pensava, na dela ficaria a matar mas, afinal, depois concluiu que não ia com os cortinados. Em suma: herdei-o, meio indeciso entre o que lhe fazer mas com o bichinho da bricolage - essa doença infantil do machismo... já ruminando das suas. Nem poderei alegar que o dito me fazia falta pois desde que nos olhamos, ele na colorida caixa de cartão que o albergava enquanto ainda puzle, racionalmente percebi que na minha 'casinha' não tinha espaço para ele sem proceder a prévias obras de canalizador, de ladrilhador e de pedreiro. Foi pois jubiloso que o aceitei pois sessenta e nove peças para montar são dos tais desafios que Homem que se preze nunca recusa: nestas tristes eras é deste aço que se moldam os machos, ora que já não se contrói o 'tipi' para a sua squaw mas resta sempre a via do bricolage para, exemplo, oferecer-lhe um armário de casa-de-banho novo, montado com as mesmas mãos que a acariciam. É inegvelmente másculo. Além de que ele, armário, quando pronto e tendo como tem umas rodinhas, sugere e inspira umas novidades cénicas ao relacionamento íntimo, coisa que, penso para mim no silêncio em que aparafuso D4 com F2, poderá vir a ser sumamente agradável e a dar-lhe usos muito mais nobres e devassos que os sugeridos na caixa ou no folheto, uma espécie de Disneylândia para adultos e muito privada...
A montagem caminha para o seu meio, passados dois dias. As razões são várias, destaco as principais: a) não é tarefa solitária mas sim para serões familiares: cada peça que encaixa, cada rodinha que se coloca, cada praga que se solta a um parafuso que não entra, são eles o fermento do prestígio que se granjeia como Homem da casa, cimento e cal de reputações que um dia serão lembrados - e assim nascem as Lendas, acredito...; b) na primeira investida percebi que faltava uma peça, mas 'decorativa' que é resmunguei e ignorei; hoje, ao avançar para bingo, dei pela falta doutra, esta nuclear, trave mestra para que o armário não desmorone quando, altaneiro, lhe encontrar local e utilidade, ambos hoje ainda insondáveis e já objecto de mordazes especulações no seio do clã; e, c), sessenta-e-nove-peças são muitas peças, além de que trabalho de relojoeiro carece de minúcia, inspiração, ferramentas adequadas e calos nas mãos (porque será que o raio dos parafusos nunca entram logo à primeira nos buracos que, presumivelmente, foram feitos para os acoitar?), tudo mais raridades que abundâncias cá pela casa - excepção às ferramentas: há stock para demolir o prédio, se necessário.
No fundo da caixa vinha um esquema de montagem, step-by-step, esquematizados doze passos, digo doze tropeções: estou entre o terceiro e o quarto e, confesso, além duma bolha numa mão já ouço ironias e vejo comiserações, 'amigos' conselhos a uma avisada desistência. Vencerei. Há coisas na vida que um Homem tem de fazer para sê-lo, integral, e não há armário em sessenta e nove peças (e sete, faltam duas) que o trave ou o vergue, um macho é um macho e há outras alturas em que tem de prová-lo.
Prevejo que lá para o Outono haverá novidades, fumo branco, armário e sorrisos novos.
quarta-feira, julho 19, 2006
terça-feira, julho 18, 2006
espanholadas e-mailadas

“...tentei ser positivo e não chauvinista mas também preocupado em não cair no exagero: porque a impressão da 1ª hora manteve-se até ao fim: aqueles gajos não sabem tirar uma bica e a comida é... esquisita - agora estou a ser simpático...
Por exemplo o trânsito: há mais civismo mas é comportamento 'latino' embora mais contido que o nosso, na faceta do desrespeitador. O estacionamento nas cidades é muito mais disciplinado que o nosso mas os lugares lá também escasseiam e, em Ponta Umbría, que é zona de praia e enchentes, viam-se carros mal estacionados mas sem os nossos exageros tradicionais. Agradou-me muito o comportamento nas AE. Sabes que a Telma anda bem e é segura, sendo que ter picos de 150/160 se a AE estiver 'livre' não é um exagero do outro mundo. Pois lá, nessas situações de quilómetros a perder de vista 'livres' eu subia até aos 140, máximo, e era sempre dos mais rápidos a circular e raramente era ultrapassado: circula-se mesmo nos 120's e dos +- 500 kms de AE que fiz adoptei esse ritmo e fiz sempre viagens rápidas pois não apanhei nada parecido com engarrafamentos, e mesmo nas entradas e saídas de Sevilha há 'muito trânsito' mas... rola, e não a passo de caracol. Mas do que gostei mesmo foi da postura na AE, respeitadora. Não vi 'donos', malta que ocupa a faixa do meio ou a da esquerda como se o talão da portagem fosse registo de propriedade (ah! não vi uma única portagem! será do tal esquema, como na Suiça e na Alemanha, em que no selo do carro se paga uma taxa para utilizar as AE's?), mal ultrapassam regressam de imediato à faixa da direita, mesmo que a perder de vista não haja um único carro e atrás não venha ninguém com pressa, coisa em que rejubilei pois apanho autênticos ataques de cólera nos meus habituais trajectos, Lisboa e aí.
A comida que me calhou era quase sempre uma merda mas desconfio e acredito que paguei a factura de estar com ração completa à cozinha do hotel e acompanhado por orçamentos curtos, meu e de quem me acompanhava, e poucas 'avarias' fiz fora do penico, digo, da panela do rancho. Mas na cantina do Hotel havia sempre pratos com nomes locais que, quase sempre, eram intragáveis, uma merda completa: aqueles gajos assim não têem saúde nenhuma e devem andar sempre doentes, a comer aquelas coisas.
O que casa com os muitos Hospitais que vi na periferia de Huelva, à saída para AE que vai a Sevilha: três enormes, mas todos fora do aglomerado das casas. Já agora, também reparei que há pargas de farmácias e até uma espécie de lojas de conveniência farmacêuticas onde vendem tudo o que não precisa de receita: aquela malta é mesmo doente (embora não o pareça mas sabe-se lá que enfermidades eles escondem naquele linguarejar alto e ininteligível, por dito a correr... e isto não admira com a porcaria que comem, ainda por cima sem tomarem um café capaz, para "desmoer"! por aqui muitos furos abaixo de nós e à volta para cá paramos logo em Castro Marim, a beber uma bica de jeito. Almoçamos em Lagos, num cafezito de esquina qualquer, um arroz de pato que estava temperado por deuses, pão do autêntico, cerveja a borbulhar, mais o tal café Delta no fim... Em Espanha também há Delta - e muito se via o triângulo..., e as máquinas de café são iguais às de cá: é o jeito, não percebem nada daquilo, não consegui beber um único café que deixasse espuma agarrada à chávena. E a cerveja, tanto em Huelva como em Sevilha a Cruzcampo é esmagadora, também não presta ao lado duma Super Bock. Quanto a pastelaria não vi nem lambi uma de jus ao nome, e a doçaria deles é indigna de um guloso moderado. Já nos helados são uns campeões (mas a Olá de lá, que tem outro nome que agora não me lembra, não tem o Super Maxi em promoção como nós cá nos lambuzamos, este Verão...)
Os espanhóis vivem nas varandas quando não estão na rua. Enormes, omnipresentes cheias de toldos que dão um colorido bastante uniforme ao prédio pois não há o pintalgar nacional de cada um dos condóminos imaginar-se um Rembrandt de papo para o ar. Há variações de cor mas não uma bebedeira. Será por causa do calor, certamente, esse viver semi-público que nós não temos: insuficiência com mais área que a da varanda. Cá também há calor, e muito, e também há varandas, embora menos e quase sempre mais pequenas, mas não vivemos assim: escondemo-nos com o botão do televisor, besta felizmente lá não muito popular nos locais públicos – leia-se cafés e pastelarias, tascas e etc. Os espanhóis vivem a varanda como uma das divisões mais populares da casa. Não se lhes vê a mesa com o prato de sardinhas (bem, há os toldos, não é? porém acredito que comem lá dentro, há muito de íntimo no alimentarmo-nos) mas vêem-se as mesas com copos, entram e saiem, conversam, bebem, vivem na varanda até irem dormir.
Acredito que haja lá empregos do caraças, se não fizer erro de cálculo: sabes que os Correios fecham ao meio-dia e meia, e kaputt? entram às 8,30 e fazem a manhã, já não voltam a abrir nem que seja lá pelas 5 ou pelas 7 que é quando os espanhóis fazem mais umas horinhas até irem para a borga, ou para as varandas. Mas estava e ainda estou meio desconfiado que a verdadeira situação profissional deles não será bem esta, só assim, e embora bem andasse atento não consegui apanhar um carteiro para confirmar a que horas ele anda na rua e, principalmente, se na parte da manhã não esteve atrás do balcão a vender selos. Mas não me fio em não ter visto nenhum pois, lá, em Espanha, é tudo fino e moderno e o carteiro já não deve andar de bicicleta ou motoreta (no meu bairro ainda é de bicicleta ou a penantes que ele anda a tocar campainhas).
Sabes como anda a chamar clientes o amolador de facas e tesouras, lá em Espanha? e não vi um, vi dois! Anda de carro! um num Golf com uns dez anos, outro numa carrinha mais modernaça tipo Berlingo ou Kangoo: toca a mesma música de cá mas é de fita gravada e altifalante, megafone no tecto do carro... lá vem ele a dez à hora, a porta de trás aberta (caso do Golf) deixando ver a máquina de esmeril (certamente já não a pedais...) mais as caixas da ferramenta, o gajo ao volante com uma cara de tédio enorme e aquilo em cima dele a assobiar... por certo se viesse a pedalar e a tocar a harmónica vinha bem mais entretido e, mais uns pontos a favor do nosso amolador, mais ecológico e preservador dos recursos naturais finitos. A gasolina lá é uma alegria, não admira que o amolador ande a queimá-la... 1 litro da ‘95’ a... 1€ e 11!!! enchi o tanque quando lá cheguei e voltei a fazê-lo à saída pois lá dentro fartei-me de andar de carro: já há muito tempo que não pagava contas de bombas de combustível com tanto prazer, para além do desconforto de largar sempre uma 'nota preta' quando se mete gasosa: mas não me sentia roubado, manipulado, escandalosamente viciado e depois explorado.
Quanto a tabaco... é o Éden possível nestes tempos maus para os fumadores. Os preços são mais baixos, mas cuidado que o Marlboro lá custa 2,90... na média um maço anda nos 2,35. Fumei quase sempre Pall Mall de caixa vermelha, uma variedade qualquer, que avulso saía a 2 euros mas comprado ao pacote vinha a 1,85: trouxemos dois volumes e fomos burros: já vão a meio, qualquer um... A Guerra Anti-Tabaco: aceito e convivo facilmente com um regime de fumos como lá há: à entrada de qualquer casa comercial ou espaço público está bem visível se lá é proibido ou permito fumar: claro que a maioria dos cafés permite-o mas não distante há sempre um que não, e assim todos vivem contentes. No hotel o único sítio onde era permitido (lá dentro) era no bar. Era chato não poder fazê-lo na sala de jogo (ainda por lá se jogou um dominó e umas cartadas, também uma sessãosita de snooker, brilhei) e no vão de escada onde estavam os caça-níqueis da Internet. Mas aguenta-se, o Bar é ali ao lado, ou vai-se olhar a folia na piscina ou sobe-se ao quarto que vem equipado de origem com cinzeiro, não como extra.
A “Isla Magica” foi uma seca para nós, os cocuanas, mas as miúdas divertiram-se. Até nós, que ainda andamos de barco em aventuras extraordinárias que quero ver se ainda um dia conto: passei por momentos de arrepiar! até nos 'rápidos' andei, num barquito de borracha que andava à roda à roda e com cascatas a mijar-nos em cima! tenho uma foto que conta bem isso em pormenor, aquilo para nós 'cotas' era como estar num filme do Indiana Jones!!! comprei lá um chapéu de palha com uma fitinha a dizer “Isla Magica” pois estava um sol do caraças e, já contei, a cerveja é uma merda: bebi lá foi uns granizados que são fixes para a sede e descobri um bar que os fazia com rum, mas não contei a ninguém: por isso é que precisava do chapéu pois andava a cirandar de lado para lado, as velhas abancaram numa esplanada com sombra e quase nunca mais de lá saíram...
Bem, estou cansado de falar tanto de Espanha. Há mais, há muito mais, mas agora não. Um dia destes escrevo-te outro lençol-mail”
A comida que me calhou era quase sempre uma merda mas desconfio e acredito que paguei a factura de estar com ração completa à cozinha do hotel e acompanhado por orçamentos curtos, meu e de quem me acompanhava, e poucas 'avarias' fiz fora do penico, digo, da panela do rancho. Mas na cantina do Hotel havia sempre pratos com nomes locais que, quase sempre, eram intragáveis, uma merda completa: aqueles gajos assim não têem saúde nenhuma e devem andar sempre doentes, a comer aquelas coisas.
O que casa com os muitos Hospitais que vi na periferia de Huelva, à saída para AE que vai a Sevilha: três enormes, mas todos fora do aglomerado das casas. Já agora, também reparei que há pargas de farmácias e até uma espécie de lojas de conveniência farmacêuticas onde vendem tudo o que não precisa de receita: aquela malta é mesmo doente (embora não o pareça mas sabe-se lá que enfermidades eles escondem naquele linguarejar alto e ininteligível, por dito a correr... e isto não admira com a porcaria que comem, ainda por cima sem tomarem um café capaz, para "desmoer"! por aqui muitos furos abaixo de nós e à volta para cá paramos logo em Castro Marim, a beber uma bica de jeito. Almoçamos em Lagos, num cafezito de esquina qualquer, um arroz de pato que estava temperado por deuses, pão do autêntico, cerveja a borbulhar, mais o tal café Delta no fim... Em Espanha também há Delta - e muito se via o triângulo..., e as máquinas de café são iguais às de cá: é o jeito, não percebem nada daquilo, não consegui beber um único café que deixasse espuma agarrada à chávena. E a cerveja, tanto em Huelva como em Sevilha a Cruzcampo é esmagadora, também não presta ao lado duma Super Bock. Quanto a pastelaria não vi nem lambi uma de jus ao nome, e a doçaria deles é indigna de um guloso moderado. Já nos helados são uns campeões (mas a Olá de lá, que tem outro nome que agora não me lembra, não tem o Super Maxi em promoção como nós cá nos lambuzamos, este Verão...)
Os espanhóis vivem nas varandas quando não estão na rua. Enormes, omnipresentes cheias de toldos que dão um colorido bastante uniforme ao prédio pois não há o pintalgar nacional de cada um dos condóminos imaginar-se um Rembrandt de papo para o ar. Há variações de cor mas não uma bebedeira. Será por causa do calor, certamente, esse viver semi-público que nós não temos: insuficiência com mais área que a da varanda. Cá também há calor, e muito, e também há varandas, embora menos e quase sempre mais pequenas, mas não vivemos assim: escondemo-nos com o botão do televisor, besta felizmente lá não muito popular nos locais públicos – leia-se cafés e pastelarias, tascas e etc. Os espanhóis vivem a varanda como uma das divisões mais populares da casa. Não se lhes vê a mesa com o prato de sardinhas (bem, há os toldos, não é? porém acredito que comem lá dentro, há muito de íntimo no alimentarmo-nos) mas vêem-se as mesas com copos, entram e saiem, conversam, bebem, vivem na varanda até irem dormir.
Acredito que haja lá empregos do caraças, se não fizer erro de cálculo: sabes que os Correios fecham ao meio-dia e meia, e kaputt? entram às 8,30 e fazem a manhã, já não voltam a abrir nem que seja lá pelas 5 ou pelas 7 que é quando os espanhóis fazem mais umas horinhas até irem para a borga, ou para as varandas. Mas estava e ainda estou meio desconfiado que a verdadeira situação profissional deles não será bem esta, só assim, e embora bem andasse atento não consegui apanhar um carteiro para confirmar a que horas ele anda na rua e, principalmente, se na parte da manhã não esteve atrás do balcão a vender selos. Mas não me fio em não ter visto nenhum pois, lá, em Espanha, é tudo fino e moderno e o carteiro já não deve andar de bicicleta ou motoreta (no meu bairro ainda é de bicicleta ou a penantes que ele anda a tocar campainhas).
Sabes como anda a chamar clientes o amolador de facas e tesouras, lá em Espanha? e não vi um, vi dois! Anda de carro! um num Golf com uns dez anos, outro numa carrinha mais modernaça tipo Berlingo ou Kangoo: toca a mesma música de cá mas é de fita gravada e altifalante, megafone no tecto do carro... lá vem ele a dez à hora, a porta de trás aberta (caso do Golf) deixando ver a máquina de esmeril (certamente já não a pedais...) mais as caixas da ferramenta, o gajo ao volante com uma cara de tédio enorme e aquilo em cima dele a assobiar... por certo se viesse a pedalar e a tocar a harmónica vinha bem mais entretido e, mais uns pontos a favor do nosso amolador, mais ecológico e preservador dos recursos naturais finitos. A gasolina lá é uma alegria, não admira que o amolador ande a queimá-la... 1 litro da ‘95’ a... 1€ e 11!!! enchi o tanque quando lá cheguei e voltei a fazê-lo à saída pois lá dentro fartei-me de andar de carro: já há muito tempo que não pagava contas de bombas de combustível com tanto prazer, para além do desconforto de largar sempre uma 'nota preta' quando se mete gasosa: mas não me sentia roubado, manipulado, escandalosamente viciado e depois explorado.
Quanto a tabaco... é o Éden possível nestes tempos maus para os fumadores. Os preços são mais baixos, mas cuidado que o Marlboro lá custa 2,90... na média um maço anda nos 2,35. Fumei quase sempre Pall Mall de caixa vermelha, uma variedade qualquer, que avulso saía a 2 euros mas comprado ao pacote vinha a 1,85: trouxemos dois volumes e fomos burros: já vão a meio, qualquer um... A Guerra Anti-Tabaco: aceito e convivo facilmente com um regime de fumos como lá há: à entrada de qualquer casa comercial ou espaço público está bem visível se lá é proibido ou permito fumar: claro que a maioria dos cafés permite-o mas não distante há sempre um que não, e assim todos vivem contentes. No hotel o único sítio onde era permitido (lá dentro) era no bar. Era chato não poder fazê-lo na sala de jogo (ainda por lá se jogou um dominó e umas cartadas, também uma sessãosita de snooker, brilhei) e no vão de escada onde estavam os caça-níqueis da Internet. Mas aguenta-se, o Bar é ali ao lado, ou vai-se olhar a folia na piscina ou sobe-se ao quarto que vem equipado de origem com cinzeiro, não como extra.
A “Isla Magica” foi uma seca para nós, os cocuanas, mas as miúdas divertiram-se. Até nós, que ainda andamos de barco em aventuras extraordinárias que quero ver se ainda um dia conto: passei por momentos de arrepiar! até nos 'rápidos' andei, num barquito de borracha que andava à roda à roda e com cascatas a mijar-nos em cima! tenho uma foto que conta bem isso em pormenor, aquilo para nós 'cotas' era como estar num filme do Indiana Jones!!! comprei lá um chapéu de palha com uma fitinha a dizer “Isla Magica” pois estava um sol do caraças e, já contei, a cerveja é uma merda: bebi lá foi uns granizados que são fixes para a sede e descobri um bar que os fazia com rum, mas não contei a ninguém: por isso é que precisava do chapéu pois andava a cirandar de lado para lado, as velhas abancaram numa esplanada com sombra e quase nunca mais de lá saíram...
Bem, estou cansado de falar tanto de Espanha. Há mais, há muito mais, mas agora não. Um dia destes escrevo-te outro lençol-mail”
sábado, julho 15, 2006
Eros

Imperdível a crónica de Faíza Hayat no jornal "Público" de hoje, suplemento 'Xis' (sem link, pois é a pagantes), onde fala e conta da magia dum trapinho sobre o (banal) nu.
Digitalizei a página. Clicando na imagem ela aumenta e, acredito, dará para se ler. Senão, corram a comprar o jornal pois só a crónica vale o € 1,10.
Coitos em Hotéis

Sou um fugitivo compulsivo. Neste correr louco até que me agarrem conheci mais duma centena de hotéis e algumas pensões e, duma vez, dormi numa espelunca colombiana dum lugarejo perdido entre selva, montanhas e árvores de coca de que não recordo nome, cota ou indigenato, além do calor húmido que rolava e me envolvia, e dos muitos monstros que li naquela juvenil insónia. Corro de chek-in para chek-out de todos que a caneta (me) inventa na demanda da sua hospedagem perfeita, primeira razão da fuga.
Os hotéis são todos iguais. Resisti muitas vezes ao chavão mas não o faço mais pois ele é mesmo verdadeiro: efectivamente os hotéis são todos iguais e esfalfo-me no improviso que exige a folha em branco, nos seus jardins busco uma palmeira original para desvirgulá-la. As comidas, multicoloridas e sempre horríveis; os empregados, sempre jovens e simpaticamente distantes; os quartos, banais, filhos do mesmo ogre entediante e da mesma desinspiradora musa, óptimos para aleitar sonolentos climas de evasão: nada num hotel é original, nem sequer o repuxo no jardim enquadrado entre o verde que amamenta e o azul da piscina, ela também gémea. E os corredores, esses..: abro a porta e lá está sempre o mesmo longo tapete que me abafa os passos, trilho deixado pegada a pegada por mim e outros fugitivos, e se calhar ele é o mesmo tapete em todos os hotéis que imagino e escrevo, sempre longo e silencioso acesso ao altar da Ficção. Talvez até algumas marcas tenham sido por mim deixadas e procuro sempre encontrar nas paredes um coração ideado e desenhado que seja parecido com o meu, um nome que fale de mim, como nas marcas nas árvores que na infância nelas recortava e perduram além dos amores e das permanências. Pois, nem garanto que não me repita nas reservas que a caneta traça nem se esqueça que os hotéis, esses coitos na Fuga, são todos iguais: leia-se um romance ou os folhetos das ilusões, ficcione-se um ponto A e um ponto B e há um solarengo hotel de permeio, feliz excepto nas noites tempestuosas dos policiais em que há uma porta que range, uma faca que brilha, um tapete manchado, chek-in e chek-out de casamento súbito em elegia à Ficção, essa fugitiva ao fugitivo.
É ali, no corredor que se abre e mostra a sua folha cã, atapetado de silêncios à porta das celas numeradas, que o sinto mais que em qualquer outro local como sendo ele igual a todos os outros, déjà vu mais visível que nos ovos mexidos com bacon mal-passado ou nas saladas de sempre, pequeno-almoço, almoço e jantar incluídos na Fuga em ração completa. Não paro num corredor de hotel, a exemplo para olhar a simetria capicua dum número de alcova ou o replay dos quadros nas paredes, sem que me sinta metediço no silêncio hirto das paredes que me olham em muda reprovação pelo atrevimento da intrusão. É o mesmo hotel; aperto o passo e sigo o trilho, fujo, fujo sem fim: eles são intermináveis porque se repetem, e reconheço na decoração passos que dei noutra caligrafia desta corrida de reinventar o inventado, esta espelunca da Ficção. Fujo. Corro, peço a conta e pago, fecho e abro o caderno e voo para outro, na viagem entre dois coitos tomo as asas doutras evasões, biberão de caneta-ficção com aparo rasurante à realidade.
É esta a segunda razão, pena eles serem todos iguais e ser difícil ao tédio não rasgar a folha quando, novamente, corro no silêncio do tapete dos seus corredores sem encontrar um traço meu, uma marca uma vírgula, uma letra-coração, coitos do jogo-de-escondidas de mim.
sexta-feira, julho 14, 2006
sexta-feira, julho 07, 2006

Durante uma semana não estou para ninguém. Escusam de tocar a campainha, telefonar, mandar e-mails ou sinais de fumo. Não estou, não estou, não estou.
Façam o mesmo - recomendação...
(a porta e o gajo à porta estavam aqui)
quinta-feira, julho 06, 2006
"um sorriso para Cibele"
 Aqui não há nada, Cibele,
Aqui não há nada, Cibele,a não ser uma alameda estreita
com renques de flores à esquerda e à direita.
As flores são daquelas de que eu não gosto, Cibele.
Pretensiosas.
Zínias, dálias, crisântemos, margaridas e rosas.
As flores de que eu gosto são das que ninguém planta nem semeia,
daquelas que a gente passa e diz: "Olhe, faz-me favor.
Sabe-me dizer como se chama esta flor?"
Não gosto delas, não,
mas à falta de melhor, Cibele,
é nelas que cevo a minha solidão.
Todas as manhãs quando aqui passo para as ver
acaricio-as à flor da pele
e balbucio as palavras que ficaram por dizer.
Assim se vai passando o tempo, Cibele.
António Gedeão
(a belíssima fotografia de Pablo Herrerías estava neste blogue)
segunda-feira, julho 03, 2006
será que estou rico?

Lembram-se da série que fiz com fotos das minhas estantes? Voltem a este post e, das fotos, reparem na de baixo em particular: localizem o álbum de lombada amarela na fila mais baixa (cliquem na palavra-link acima e vejam bem a foto do post 'das estantes XXI'). Chama-se "Rally Cars", o autor é Reinhard Klein e é uma edição da Konemann que custou o equivalente a 30€ actuais. Está usado, mas em bom estado.
É igual ao livro da foto, e é a mesma edição. Foto que fui buscar ao site da Amazon, a esta secção, onde está à venda e em iguais condições de uso por... €579 euros!
Tudo somadinho, fila a fila, lombada a lombada, haverá aqui uma pipa de massa, como soi dizer-se e está a agradar-me soletrar? tenho também quatro 1ªs edições das primeiras obras do Antº Lobo Antunes, compradas para aí a duzentos escudos cada, que, soube-o há pouco tempo e também em puro acaso, hoje estão avaliadas para compra pelos alfarrabistas a quinze contos o exemplar. Se calhar 'estou rico'.
É que, neste caso que puxei a tema de post, a minha surpresa foi total pois longe de mim pensar que tinha comigo um livro de vrum-vrums com tal cotação!... É... estou "rico" pelos livros e duplamente, segunda faceta que não imaginava e me deixa ainda mais feliz!!!
sábado, julho 01, 2006
o meu país está nas meias-finais

Ricardo, o anti-Mamede. Ricardo, que hoje eu imagino como o português-mais-português dum Portugal que continuo a acreditar existir também algures de segunda a sexta, dividido entre a dor-de-burro doentiamente desacreditadora, e o outro, o que supera valados que parecem largos demais para o curto da sua perna, cós altura e ombros dum país.
Hoje grito, invejoso, invejoso dele nos penaltys dos dias: Ricardo! Receio o 'meu'-Mamede (com e sem aspas), o Mamede-Portugal. É esta a luta, o penalty contra Portugal. E é esta a atitude, ser-se anti-Mamede, acreditar para conseguir.
Fecho falando objectivamente de Fernando Mamede: desportivamente fui seu fã e não o conheço como pessoa; mas, hoje, a foto no blogue é do seu dr. Jekyll, Ricardo!!!! Porque, depois de 'hoje', há o segunda-a-sexta nacional para jogar.