as estantes: intervalo hospitalar com passagem pela costa amalfitana
Deitando os olhos lá para baixo (e mais ao que falta revelar), nesta série de posts 'as estantes', vejo lombadas com histórias especiais ligadas, bocados da minha vida simbolizados numa determinada compra, livros que não possuo por impulso ou por ter deles ouvido falar mas daqueles outros que os temas mais estranhos à casa que os guarda revela-os como entradas com historial próprio, às vezes peculiar.
Por exemplo à bocado estive com um dicionário Italiano-Português nas mãos (mais o vice-versa) e quem comigo privar por certo interroga-se sobre o porquê de tal manancial de comunicação dado eu, é público, ler sofrivelmente em francês ou em inglês, espanhol como toda a gente, e quando abro a boca em língua estranha ser de se fugir horrorizados e, mais ainda, só fui uma vez a Badajoz e voltei para trás. Mais o recente xitimela-rail que me levou a Paris para fazer o mesmo que fazia em Lisboa ou Leiria: passar uma noite a embebedar-me com putas e sair de lá de tomates inchados com a ventania que entrava pelos bolsos, vazios, mas essa viagem não conta. Enfim, nada sei de línguas e isso não justifica um grosso dicionário, ao contrário do que poderá parecer: consulta-os quem sabe, não quem não sabe e passa à frente ou dumas tira outras.
Pois esse dicionário foi comprado porque eu tive um senhorio italiano. Compra cautelar num relacionamento destes em que são sempre os mesmos a receber e a pagar, há dias assim, raios que está a chover e eu sem, enfim: se as palavras se afinarem também quero meter uma lança em África, digo na costa amalfitana. Cuidados imerecidos, dizem-me o pó e a renda fininha das aranhas, essas tecedeiras do silêncio que dele sorvem teias que um dia amarram a um livro as memórias que o geraram. Como nota curiosa adianto que já por cá conheço o ‘meu senhorio’ há uns bons vinte anos e que ele fala um português perfeitamente inteligível e com o típico do sotaque cantante.
Mas é doutro (doutros: são dois volumes), que quero contar: na foto, lado direito e em cima, está o ‘manual do Harrison’, de nome completo ‘Manual de Medicina Interna’ por Harrison e mais uns seis, da McGraw Hill. Comprei-os uns dez anos atrás ou quase, estava numas férias estranhas pois passadas no quinto andar dum hospital: nada me doía enquanto lá estava e fora o estranho de lá estar hospedado e mais uns sinaizitos da longa equipa de assistentes e regentes que me apalpavam, à semana, mais a comida que tinha realmente ‘maus dias’ e eterna falta de tempero (comida, quando a tinha: estive em dieta ‘zero’ a maior parte do tempo: nem na água tocava para além de compressas molhadas para os lábios não secarem), estava numas férias como antes nunca tivera e ainda não me voltaram a calhar. Quase todas as manhãs tinha o jornal do dia, numa das vezes também calhou num europeu ou mundial de futebol e até tinha uma televisão, o tempo corria tão perfeitamente anónimo entre as únicas badaladas que contavam: as rotinas de enfermaria, o termómetro, os comprimidos, a mudança dos sacos de soro e mistelas, mais mistelas pelo tubo abaixo em agulhas que me poupavam a carne mas que traziam os soníferos ao calendário, e se ao fim-de-semana as horas eram diferentes só o eram porque as visitas tinham caras diferentes das usuais, os corredores cheios de famílias inteiras que vêm visitar o primo, a blusa a resplandecer nas flores recém lavadas, o cabelo apanhado num carrapito com mais cuidados, enfim as visitas domingueiras em autênticas excursões. O tempo não existia para além dos horários e rotinas e ou era dia ou era noite, tudo um lento e silencioso interlúdio entre a razão de ser de se estar ali, cama, mesa, roupa lavada e remédios a horas.
Nem eles nem eu sabíamos o que eu tinha (*) e que me dava uma cor verde à pele, e mantinha-se a dieta ‘zero’ e um acompanhamento à distância das doses medicadas até à próxima reunião de segunda-feira, a ‘voltinha’, em que as equipes e os chefes incluindo um bando de estagiários, iam de quarto em quarto e de cama em cama e, caso a caso, fazendo sinais de cabeça entendidos e, meia dúzia de conversas depois, davam novo receituário pela afinação do diagnóstico. Na minha lá ficavam semana a semana em volta da cama, discutiam e eu ali no meio via, deitadinho pois à revista não havia outra posição de ’sentido’ aceitável, as facções a guerrearem-se e a exibirem e a exigirem papéis, papéis, análises, sádico momento em que se determinam as sevícias ao corpo para sacar-lhe números e fórmulas, gráficos, retratos de mim que não leio e eles, lendo-os, com eles não se entendem.
Por isso comprei o ‘Harrison’ pois, no longo tempo em que penei por alimentar-me antes da sábia preventiva ‘dieta zero’, já lhe(s) deitara o olho quando as crises de saúde me faziam procurar outras estantes nas livrarias, outro tipo de notícias nos jornais e revistas. Nota-se que foi uma pipa de massa (e foi) pois são dois calhamaços com excesso de peso a legitimar a alcunha. Semana a semana, análise a análise, eu como primeiro interessado e curioso ia seguindo as pistas, atento às conversas ouvia as discussões acerca das possibilidades, os nomes estranhos, havia uns que tinham maus presságios e outros que achavam que era um bacilo tropical qualquer que hibernara quase vinte anos e de que por cá não havia ficha (fui fazer análises ao Instituto de Medicina Tropical), outro perguntou-me três vezes se eu tinha a certeza absoluta de qual era a minha raça pois há raças que são mais sensíveis a certas doenças às quais outras passam ao lado a assobiar, e à terceira vez chateei-me e ele nunca mais me perguntou pela família, meteram-me um tubo pelo cú acima umas três vezes, uma pela boca abaixo, tubos no nariz e na garganta e uma papa pelas goelas abaixo para funcionar como contraste, entrei naquela coisa que parece espacial e onde passamos em câmara lenta enquanto somos silenciosamente todos fotografados, o ‘tac’, acho, mais sangue hoje mais sangue amanhã, bem, eles não faziam a mínima ideia com certezas acerca do que eu tinha e me dava dores quando comia, as febres altas a horários misteriosamente regulares, a perda de peso contínua, um rim a parar, e a cor verde.
Então falei com quem me atura e gosta de mim, e veio o Harrison em dois volumes para a mini-biblioteca de férias. O habitual e expectável por quem pense duas vezes antes de fazê-las, coisa que eu não fiz: na ‘primeira leitura’ encontrei os meus sintomas todos tim-tim por tim-tim e só me faltou a certeza de ter pé-de-atleta; numa mais calma e após aguentar as reprimendas dos médicos e, passado esse momento ético, deles colher pistas para melhorar a busca, comecei a entender melhor os nomes que ouvia como sugestões possíveis para a estranha maleita que me trouxera ao hotel já em terceiro alojamento em menos dum ano. Fiz a leitura pessimista – pudera!... era eu o doente... e já começava a ficar à rasca... – e li os porquês de tais sintomas assim e assim, que eu de facto tinha, poderem ser isto e aquilo. E há istos e aquilos que são maus, muito maus mesmo. Bem, nem tudo é mau: lá no grupo dos estagiários havia duas ‘seguidoras’ da corrente mais pessimista acerca da minha paciente pessoa, e costumavam voltar no fim da ronda e toca a perguntar aqui, a apalpar e veja lá se dói assim, era um momento especial, o festivo naquela rotina de viver sem nada, só o dia e a noite e as rondas mais as visitas. A ida à feira no sábado à noite, versão hospitalar.
Hoje estão aí numa estante. Ao lado os de gastrenteronlogia clínica, pois fui durante anos cliente regular de colonoscopias e mal de mim se me metiam tubos rabo acima e eu não tivesse que racionalizá-lo para psicologicamente melhor aceitar a ignomínia de macho. Nelas, estantes retratadas, e vendo-se muito mal na foto ou nem sequer aparecendo, alguns álbuns sobre África e Moçambique, mais pela informação fotográfica que pelos textos, na generalidade. Lá mais para baixo duas enciclopédias e a História de Portugal do Mattoso e apêndices, do Círculo de Leitores, incluindo os dois volumes sobre a Guerra Colonial riquíssimos em registos de testemunhos. Mais uns ‘clássicos’, mais um sobre charutos e outro sobre canetas, outro assim e outro assado. Secção de ‘livros de estante’ e muito pouco lhes mexo, coisa que no caso do Harrison e vizinhos me deixa contente.
(*) afinal era Crohn e só tenho melhorado desde que fui operado, ano a ano mais se sedimenta em memória e daqui a outros dez já não saberia escrever este post pois pouco mais lembraria além da estória do paposeco roubado (que nasce num anúncio de hambúrgueres por causa do tal campeonato de futebol falado), a do Tiago que estava lá internado pois teve de ser operado ao peito para o consertarem por dentro após um coice que levou dum cavalo, e que recebia na visita a seguir ao almoço a ‘namorada’, certo como estava e então me explicou que a mulher, a ‘legítima’, só podia aparecer na das sete da tarde pois trabalhava todo o dia e noutra cidade, a do ‘vidrinhos’ que morreu com uma cirrose num dos meus internamentos e dos tempos em que o conheci, era o Seminário de Santarém o alojamento de retornados de Angola, coisas assim.
Mais algumas: agora que comecei a dar à memória campo para correr até vejo tantas páginas já escritas e faltará redigi-las. Até me lembro, reparo, doutra estória ainda mais longe e também passada em hospitais, na mesma altura em que o Jimmy Carter tentou uma invasão do Irão via helis que se atolaram no deserto, na altura da ‘crise dos reféns’; terá sido 80? 81? à volta disso. Dessa altura, em S. José e enquanto aguardava vez de entrar para a oficina dos ossos partidos (tenho 13 parafusos e uma placa, material precioso ao que me disseram e o que vem dar-me um grande sossego: sou pobre por fora mas rico por dentro – e bem agarrado ao osso). Há um momento em que, lá na enfermaria que era coisa para levar umas quarenta a cinquenta camas oficiais, mais as dez ou quinze suplementares habituais, em que me mudaram a cama de sítio e fui para um canto onde, já ‘arrumados’ e com “o Malveira” a ganhar teias de aranha, estavam os veteranos da enfermaria-armazém. Ele era “o Malveira” porque era da Malveira e eu lembro-me dele por duas razões: a mais chata é que lhe tinham amputado uma perna do joelho para baixo e não havia maneira da sua prótese aparecer. Constava, talvez até a verdade, que a ‘peça’ fora encomendada ao estrangeiro pois era coisa que, na altura, por cá não se fizesse assim tão à medida como tem que ser meia perna articulada que, convenha-se, não é bem um sapato, e até se dizia que a peça vinha da Alemanha. Ora, sabe quem lá mora, Lisboa leva razias diárias dos aviões da Portela e, embora há vinte e tal anos não fosse como hoje o é, mesmo assim havia sempre um ou dois que lá passavam por cima. E a malta no gozo: “ó Malveira! Será este?” Pois o bom do Malveira não tinha ordem de soltura para voltar para a quinta antes de chegar a perna, embora já nada lhe doesse e, facto muito curioso de que tinha ouvido falar e lá e com ele presenciei, ter momentos em que jurava que sentia além do côto o resto, que não tinha. Ele garantia que sim, nas suas sensações a proporção corporal mantinha-se inalterada, e às vezes sentia dores e comichão no ausente.
A razão boa porque me lembro do Malveira: lá estão os tais familiares na tal visita de família inteira, altura de menos rigores fiscalisatórios à entrada das visitas, para os doentes uma caixa de bolinhos, um mimo de mãe ou de mulher, no caso do Malveira era sempre um enorme cabaz de maçãs que ele metia debaixo da casa e donde ia tirando e rilhando. E nós, quem quisesse. Mas ele gostava de maçãs, o Malveira.... era um entretém ouvi-lo no negro das luzes apagadas, aqui ou além uma tosse ou um gemido, ao longe os sons dos passos nos corredores e as conversas que se ouvem à distância. Sobre isto tudo havia um som que persistia, flutuava omnipresente enquanto o cabaz resistia e até ao próximo reabastecimento: o Malveira a rilhar maçãs, os dentes cravando-se e a avidez do arrancar-lhe nacos, sumarentos. Tão sumarentos eram que se seguia um festival de flatulência ou, melhor dito um festival de peidos. Era uma risota geral lá no tal canto. O Malveira era um virtuoso e daquelas nádegas nada saía amputado ou em falsete: a orquestra subia e descia, graves agudos e de corneta, e eu, ali na cama ao lado, boquiaberto e sem surpresas a olhar para a manta que o cobria e acreditando ser possível que ela se elevasse no ar, tal o volume, duração e intensidade, dos gases expelidos pelo cú do Malveira. As maçãs, claro. Eu tive alta ao fim dum mês e o Malveira lá continuou, tal como o tinha encontrado: a rilhar maçãs e a ouvir os aviões passarem.
Dessa vez, nessa enfermaria, mas antes de ter ido para o tal canto, ainda estava na ‘placa central’, há outra estória e com dois enfermeiros bem porreiros que, calhando-lhe o turno da noite, quando o silêncio caía lá pela uma da manhã, iam buscar-me à cama e pegavam-me ao colo para me meterem numa cadeira de rodas, uma tábua estendida onde eu poisava a perna entrapada e partida. Íamos para a sala dos enfermeiros e estávamos a jogar xadrez até às três, quatro da madrugada, numa espécie de bota-fora em que eu saía sempre beneficiado pois havia alturas em que um deles tinha de ir atender uma campainha, um chamamento, e eu tomava-lhe o lugar: eu, se quisesse, passava o dia a dormir que ninguém me dizia nada. As memórias dos hospitais.... matéria vasta, mas às vezes têm de se (lhe) calçar pinças.
Gosto de ser assim: ao falar dos livros falo de mim, das muitas cumplicidades com alguns dos meus e que os tornam, para mim, muito especiais.
.................................................................
(não consigo meter fotos: tentarei mais tarde, em post autónomo)

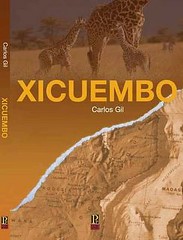

1 Comments:
Eh, pá, o que eu dava para ir passar esta semana na Costa Amalfitana!... tem o azul mais bonito que conheço!! - beijo, muf'.
Enviar um comentário
<< Home