Levante-se o réu!

(reprise, mas lá para o fim fala em "Janeiro" e este, também por esta razão, é-me sempre mês maldito)
----------------------------------------------------------
A tarde de sábado nada prometia em especial e no grupo que se formara no bar do hotel Moçambicano o consenso foi-se formando. Sobre a mesa e ao lado das bicas que o mestre Abílio ia servindo, sempre muito elegante na sua magreza com o lacinho negro na camisa branca, casaco azul, já só restavam duas propostas como aproveitáveis para salvar a tarde, que a noite já era sempre outra conversa e poderia depender e muito da forma de passá-la, a tarde. Há festas que nascem diariamente e nos locais mais insuspeitos: havia que circular para gozar o dia e preparar a noite. Portanto era: umas voltas de carro por outros cafés à procura de novas doutros grupos, eventualmente visitar um ou outro à porta de quem passássemos e desse para entrar e ouvir uns lp’s, ou ir ao cinema pois havia sempre um filme ou outro que valeria a pena ver e, lá, pela fauna sabiam-se muitas novidades sobre a flora. Nem me lembro em qual votei mas o certo é que a última ganhou e lotamos o meu carro rumo à baixa da cidade, descendo a antiga av. Anchieta de forma a tomar-se a da República (esta hoje av. 25 de Setembro, ao que penso) por detrás do Bazar, perto do restaurante Telavive e depois da cervejaria Nacional. A intenção era de passar em frente ao Scala e ver os cartazes e o tamanho da fila, idem para o Avenida, Dicca e Estúdio 222.
Como nas salas de cinema não se fuma, e lá dentro ou cá fora é também proibido fumar cigarros feitos à mão e de conteúdo exótico, o carro parecia um cinzeiro ambulante quando virou a esquina já contada. Éramos cinco, ia cheio. Não sei bem quem lá ia mas havia mais de um encartado, e eu não era nenhum deles. Talvez pela névoa interna ou pela imunidade que a idade imagina, quando entrei na avenida da Republica e vimos o auto-stop ao fundo, ainda distante, visível pelo aparato pois era feito de ambos os lados da avenida, os comentários não divergiram muito do já habitual resmungo à seca que eram ou auto-stop’s policiais, agora acrescidas de revistas aos carros, até ao prudente conselho de apagar as beatas e fechar as janelas. Pensando bem, além de ter podido estacionar e mudar-se de condutor, poderia ter feito entrada pelo parque do bazar e depois um desvio para a av. D.Luís, ou até uma inversão de marcha sem nenhum problema para além dos normais de trânsito. Mas foi com postura inocente e ar cândido que o conduzi a Daihatsu 1000 Station para a boca do lobo, melhor contando a palma da mão erguida da camarada Hamina Daúde, moçoila com umas trancinhas na carapinha e voluptuosamente excessiva para a apertada farda azul que tinha, ainda a cheirar a nova. E bastante aborrecida no momento, facto que veio a originar a segunda parte desta história. O carro estacionado antes do meu, e também sob seu controlo, tinha um problema com o fecho da bagageira que não cedia a nenhuma investida, com ou sem chave. Não abria, e ela e o condutor já estavam meios esquerdos um com o outro. Um porque aquilo não abria de forma nenhuma, a outra porque o queria ver aberto.
Em tão sorridente cenário dei-lhe um montão de cartões para a mão na esperança da quantidade ocultar as carências. As coisas estavam portanto bem encaminhadas e já havia quem olhasse para o relógio e fizesse contas ao tempo que duram os documentários antes do filme... Entretanto, a camarada Hamina dedicava mais atenção à zanga com o meu colega da frente e já era ela em corpo e peso que investia sobre a impávida fechadura, sem nenhum sucesso e com os meus papéis na mão. Pensei estar aí a oportunidade e aproximei-me do carro da mala avariada para namorar-lhe a devolução da minha papelada mais a ordem para recuperar o já anunciado atraso para a matiné, quando a situação descambou, como tem tendência a descambar o que anda torto.
Frustrada na sua missão fiscalizadora do outro, mas reconhecidamente impotente para reclamar mais pois aquilo não abria de maneira alguma, já eu estava de mão estendida quando dos papéis se começam a levantar situações confusas, dúvidas, e sobrou para mim o ímpeto policial, legalista... eu comecei a assobiar baixinho quando ela, a olhar para os papéis um por um, deu em perguntar pela essencial ‘carta’, que não existia e nunca ninguém antes me pedira. Lá, no meio do livrete do carro e dum cartão de sócio dum clube qualquer, para aí com ano e meio de quotas de atraso, estava bem dobradinha e já com honoráveis vincos uma declaração duma escola de condução que confirmava a minha inscrição e declarava-me autorizado a conduzir ligeiros ao lado dum encartado, para aprendizagem. Nem o Nixon nem o Brejnev tinham documentos mais dúbios que eu, e são malta que jurou até morrer ter sempre vivido na maior legalidade possível. A declaração tinha data que atestava a minha veterania nessa árdua aprendizagem e até tinha o recibo do pagamento da primeira prestação, indispensável que fora para que a dita fosse emitida.
Mas ela, camarada polícia Hamina Daúde como depois li nos bilhetinhos que amorosamente me dedicou e autografou, estava sem paciência para decidir sobre questões filosóficas que fossem além da viabilidade de pegar numa chave de rodas e escaqueirar a traseira do outro carro até que a bagageira desistisse e abrisse a boca, e como estava com vontade de reinvestir sobre a maldita aviou-me com uma multa e com uma espécie de notificação para ir à morada tal, logo na segunda-feira seguinte, explicar melhor essa história meio esquisita do papel-que-não-era-carta-mas-valia-tanto-como-se-a-fosse. Até mais, provavelmente diria quem me ouvia, mas ela estava surda. Bem, o tal vago "terceiro" que tinha de ser encartado lá passou para o banco da frente e lá fui a resmungar para o cinema, eles com hilariantes piadas mascaradas de palavras de conforto, eu a ver a vidinha complicada.
Ora bem, no escritório falei com a Becas que era a nova chefe de secretaria e lá me apresentei à morada penteadinho e de camisa lavada, até fui no carro pois de mota podia cair e sujar-me. Hoje penso que seria dos chamados ‘tribunais de polícia’, que julgam causas menores tais como estas infracções de código da estrada. Era na zona perto do Rádio Clube, início do bairro da Maxaquene. Encaminhado ao que ia, havia uma espécie de bicha para dar o nome, etc, etecéteras que um funcionário ia martelando na burocrática máquina de escrever. Ainda éramos bastantes do lado de cá do balcão, e aqui vou abordar a questão racial que então era pormenor muito em discussão: fazia-se sentir no dia-a-dia para além do vulgar "eu sou branco e tu és negro, gordo e baixo ou alto e magro, ok, já vimos isso vamos ao resto". As velhas discussões acrescidas pelo momento revolucionário pós-independência nacional que se vivia. Eu era o único branco na sala, ambos os lados considerados.
Lá chega a minha vez, e estava embrenhado a contar a minha vida em números e moradas ao zeloso escrivão quando me apercebo que está alguém ao meu lado, atento ao que ouve e a tentar ler pouco discretamente a folha que já se dobrava sobre o rolo da máquina e descaía para a secretária. É outro de raça branca, um rapaz mais ou menos da minha idade. Olhamo-nos e eu, que até então estivera para ali mudo a ler o jornal de parede e os editais pendurados até começar a debitar às perguntas do escrivão, perguntei-lhe, confesso que com olhar solidário: "- é por não ter carta. e tu?". Não gostei do olhar dele, mas esse e o silêncio de resposta foram rapidamente esquecidos porque o questionário ainda não terminara, e também porque ele desapareceu como aparecera. Quando olhei de novo, já se sumira. E lá fomos para a sala do julgamento. Chamaram-nos todos ao mesmo tempo e lá nos sentamos à espera que a sessão começasse. Talvez uns catorze ou quinze, à volta disso. Pelo que já perceberam todos os outros réus eram de raça negra, e esclareço que a maioria era tão jovem que as suas caras indiciavam ainda serem mais novos que eu, eu que então tinha vinte anos e já 'emancipado' para tirar a carta de condução mas que nunca sentara o inhófe num carro de ensino.
A sala tinha bancos corridos cá atrás, uma paliçada para lá do meio e, ao fundo e sobre um estrado em madeira como os das salas de aulas antigas, a douta secretária vaga à espera do juiz, que surgiu aperaltado com a primeira toga que vi ao vivo na minha vida. Era ‘ele’, o outro rapaz branco, o curioso de poucas falas, provavelmente um dos estudantes de direito que foram promovidos ad-hoc a juízes de causas menores após a sangria geral de quadros no sistema público que o fim da administração colonial portuguesa trouxe a Moçambique. Estava a começar a ter a sensação de que esta história toda começara mal e estava com sérias vontades de assim continuar, render juros em memórias prolongadas, enfim, já me coçava. É feita a chamada individual e das perguntas e respostas extraio que o resto da malta trabalha toda em oficinas e contam que ganham uma miséria, eu sou o único empregado num escritório e ganho a fortuna de sete contos por mês – já o confessara ao tal da máquina de picotar e era com espanto que ouvia os ordenados dos outros e achava-me rico sem nunca antes de tal fortuna me ter apercebido. Mais o emprego de luxo ao lado das roupas com manchas de óleo. E não se esqueça que era o único português e branco, eles eram todos moçambicanos e negros. Como a tal cereja que não deve faltar em cima de bolo que se preze, o caríssimo juiz podia estar mal impressionado sobre a minha curiosidade sobre a sua personalidade criminosa. Estava tramado...
Foi com este ânimo que ajeitei a camisa para dentro das calças e passei a mão pelos caracóis, e avancei para o homem do bibe preto quando chegou a minha vez. Optimista e diplomata, ter-lhe-ei feito até um pequeno aceno de velhos conhecidos, e cá de baixo terei piscado o olho lá para cima tentando ocultar que já estava a suar fininho, a minha estreia judicial estava mesmo a correr mal. Os olhos dele gelavam quando olhou para mim, de cima para baixo e voltaram a subir, e disse-me e eu também gelei: "- Isso são maneiras de apresentar-se num Tribunal?" Impossível. Era impossível. Primara como se fosse a um baile, até tivera o cuidado de limpar o pó do assento da carrinha para não me sujar a caminho do tribunal, e não viera na motorizada por isso mesmo. Olhei-me todo, até conferi se a braguilha estava ou não fechada, e mirei os sapatos; tudo normal, mais do que bom e até podia ir casar-me. A minha cara de espanto era tão natural quando lhe voltei o olhar que, então, ele apontou-me a razão lobrigada para abrir a lide com capote de ouro, e declarou em voz de indignação autoritária: "- O botão! aperte-o!" E apontava para a minha camisa que tinha não o vulgar um mas sim dois botões desapertados. Aquele velho hábito de justificar com a entrada de ar fresco e deixar a peitaça à mostra das pitas, o segundo botão desapertado... se não fosse um tribunal até um terceiro tinha seguido igual caminho, digo, abertura.
Bem, lá o apertei e não sei quantos tormentos legais depois ouvi a pena. Uma quantidade enorme de dias de prisão (mentalmente já estava a fazer contas às férias que seria forçado a antecipar e gastar com a 'pildra'), no fim explicado que eram dias remíveis ao pagamento duma multa, um dinheirão por cada dia. No fim de tudo e da toga findar o seu tenebroso voo, juntamo-nos todos junto ao escrivão que fez as contas individualmente a cada um, mais as custas. Calhou-me quatro contos e quinhentos, o que me deixou teso e a ganir um mês inteiro. A malta das oficinas, colegas de crime mas não de profissão, ficou com uma média de um terço do que eu tive de pagar daí a uns dias. Raios partam as manchas de óleo na roupa, a descabida pretensa solidariedade racial, e a ditadura do proletariado que impunha complexos de pequeno-burguês a quem não trabalha a terra ou nos caminhos-de-ferro. E raios partam a camarada Hamina Daúde pois essa malandra das trancinhas é que teve a culpa daquilo tudo. Vinguei-me depois, numa das historietas do "Demmis" e da "Amélia": ainda não foi promovida e continua na esquadra da Baixa a fazer o giro, como castigo condenei-a a eternos pés-chatos.
Uma nota final pois lembrei-me dela na busca de hipótese de localização do tal ‘tribunal de polícia’ na Maxaquene. Estou em crer que é no mesmo velho edifício de traça colonial, onde funcionava uma repartição pública tipo conservatória de registo civil, e onde até 30 de Setembro de '75 se entregavam as declarações de opção de nacionalidade e se instruíam os processos de naturalização moçambicana. Foi lá, nos últimos dias, que entreguei a minha opção, ainda tenho guardado o recibo dos emolumentos. Nasci em Lisboa mas vivia em LM desde os sete anos. Foi essa a minha decisão do coração.
Que aconteceu em tão pouco tempo que, em Dezembro, já estava inscrito no consulado português e com passaporte requerido, feito a carta de demissão no emprego e os lp’s e os livros prometidos dar a um amigo? É o tal período onde o som das dúvidas tornou-se-me insuportável, e em Janeiro de '76 tomei um avião à descoberta de mais mundo.
(imagem da av. 25 de Setembro, Maputo, daqui.)

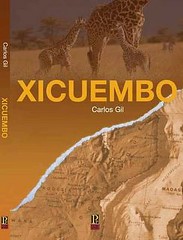

1 Comments:
Antes de mais um beijo de Ano Novo para o escriba e para o Gasolina Manhiça, dois de quem tanto gosto!!
Li o 'post' dos livros e gostei!! - e os do Miguel inner, viste?
Ah, diverti-me a ver as fotos - beijo, muf'.
Enviar um comentário
<< Home