lidos este ano - II
Bem, vou despachar os ‘lidos do ano’ antes do dito finar-se. À obra, não sem antes fazer uma confissão pela dor de consciência de, ao reler o post, também achar ‘fruta a mais', mais a mais sabendo que faltava esta 2ª parte: há ali livros a que fiz uma leitura transversal, por fastio ou desencanto, por ficar guloso com outro que entretanto me apareceu às mãos e me prometia mais emoções: houve os que foram ficando para baixo no montinho da mesa-de-cabeceira e nos transbordos que se fazem para o montinho não virar montão escandaloso, insultuoso, recolheram às estantes – mas não estão esquecidos e, de todos incluindo esses, tenho uma ideia muito nítida do que tratam, e como o tratam. Quem-casa-com-quem ou de como se urde um revisionismo histórico em linguagem melífluas, isso são pormenores reduzidos a essa memorização por maior força de não me conseguirem captar convenientemente o interesse; sou um gajo esquisito nas leituras até porque, como daqui resulta, há sempre muito para ler e o tempo é o que é.
Então vamos: no post desta madrugada mencionei o Bilhete de Identidade de Maria Filomena Mónica, e deixei o meu aplauso e ciúme pelos livros de memórias escritos assim. Tomates, está tudo dito e é ‘fruta’ mais de que com época, é ‘fruta’ que quando assim de peso causa sempre admiração: o meu machismo em nada me impede de dizer que há Mulheres com uns tomates do caraças e ainda bem que também há Homens com eles. Adiante a este, portanto, e olho para o montito que pus em cima da secretária:
Logo em cima e para não me esquecer, uma releitura: Lisboa - livro de bordo, de José Cardoso Pires. Eu nasci em Lisboa mas não a conheço. Lá nasci e com semana e meia rumei à Covilhã, de lá abalei a rasar os sete e, só aos vinte anos, regressei de Lourenço Marques e vivi à volta dum ano em Lisboa, ano 76 e picos de 77, pelo que nem conheço a antiga (nem a moderna, já agora…) cidade, mas bastando este sentimento certificado e em cédula, e o muito que vivi no tal ano do ‘retorno’ mais o que hoje me dá em alternativa "à vidinha", para saber que gosto muito dela. Pois aí, no contá-la aos leigos, o Mestre Zé foi um Senhor.
Então vamos: no post desta madrugada mencionei o Bilhete de Identidade de Maria Filomena Mónica, e deixei o meu aplauso e ciúme pelos livros de memórias escritos assim. Tomates, está tudo dito e é ‘fruta’ mais de que com época, é ‘fruta’ que quando assim de peso causa sempre admiração: o meu machismo em nada me impede de dizer que há Mulheres com uns tomates do caraças e ainda bem que também há Homens com eles. Adiante a este, portanto, e olho para o montito que pus em cima da secretária:
Logo em cima e para não me esquecer, uma releitura: Lisboa - livro de bordo, de José Cardoso Pires. Eu nasci em Lisboa mas não a conheço. Lá nasci e com semana e meia rumei à Covilhã, de lá abalei a rasar os sete e, só aos vinte anos, regressei de Lourenço Marques e vivi à volta dum ano em Lisboa, ano 76 e picos de 77, pelo que nem conheço a antiga (nem a moderna, já agora…) cidade, mas bastando este sentimento certificado e em cédula, e o muito que vivi no tal ano do ‘retorno’ mais o que hoje me dá em alternativa "à vidinha", para saber que gosto muito dela. Pois aí, no contá-la aos leigos, o Mestre Zé foi um Senhor.
E, como me lembrava disso e também porque o chato do ALA anda a chagar-nos para ler-mos mais José Cardoso Pires, achando que há por lá muito que não se reparou bem, fui-me a ele. Tenho duas versões, uma em capa dura e com gravuras e uma edição de bolso, daquelas fininhas que cabem bem num bolsito qualquer, na capa azul uma nau em pedra, olhando-nos de esguelha sobre o cavalo e o cavaleiro, quixotescos de coisas boas, notando que lhe faltam os corvos, esses de quem JCP de tanto conta, mais a mim que só me lembro de vê-los no jardim do Castelo de S. Jorge.
E agora vamos aos Paul Auster. Primeiro a dizer que gosto muito dele, acho que é gajo como eu e, sentado no seu cantinho em Brooklyn tem matéria para escrever duas vidas inteiras, voltas ao carrossel e ao quarteirão incluídos. Depois há aquela coisa simpática de volta não volta vir até cá, não só para dizer-nos coisas bonitas e olhar o ‘exotic’ mas para trabalhar nas suas artes, cinema e escrita, criar. Sabe bem ao ego quem nos diga que há cá cantitos onde se suspira de alívio, ao que se vem e donde vimos. Assim O caderno vermelho e As loucuras de Brooklyn passaram em visto, com agrado.
E agora vamos aos Paul Auster. Primeiro a dizer que gosto muito dele, acho que é gajo como eu e, sentado no seu cantinho em Brooklyn tem matéria para escrever duas vidas inteiras, voltas ao carrossel e ao quarteirão incluídos. Depois há aquela coisa simpática de volta não volta vir até cá, não só para dizer-nos coisas bonitas e olhar o ‘exotic’ mas para trabalhar nas suas artes, cinema e escrita, criar. Sabe bem ao ego quem nos diga que há cá cantitos onde se suspira de alívio, ao que se vem e donde vimos. Assim O caderno vermelho e As loucuras de Brooklyn passaram em visto, com agrado.
Já agora conto que em ‘feira’ recente, onde perdi a carteira por ter perdido a cabeça e, já com um peso excessivo nos braços ter concluído que não era capaz de abdicar de nenhuma das escolhas sem choro compulsivo, entraram em linha de espera, do Paul Auster, um atractivo “A história da minha máquina de escrever” e “A noite do oráculo”, mas estão sem prioridades especiais pois trouxe tanta coisa boa que, já salivo, terei gozos de louco nos próximos tempos. Juntei aos que estavam em leitura um de História que me anda a namorar sempre que posso. Talvez um dia escreva sobre isso, pois gosto de História por razões que merecem ser contadas e, também, pela forma como me foi dado o 12º ano em aulas nocturnas já com os trinta a deslizarem para os quarenta, dada a tal falta dum ano entre o ensino antigo e o moderno quando quis voltar a estudar. Professor Martinho, o nome dele, os Annales, os outros culpados. Daí ainda li sobre outras escolas históricas, os chatos dos ingleses incluídos, mas este de História contrafactual, em título "História Virtual", até é duma equipa de historiados ingleses, coordenada por outro inglês que não é nenhum general reformado (lembram-se de “A 3ª Guerra Mundial”, esse gag lido dez anos depois?) nem um Harris de ‘engraçado’ “Fatherland”. Recomendo a quem gosta do tema e de por a cabeça a fazer contas em muitas folhas que, lê-se e fica-se a matutar, podiam ter sido coladas só com cuspo.
Já a deveria ter referido no primeiro post, e disso tive logo consciência quando com ela troquei recente e-correspondência e me lembrei de como tinha gostado do seu livro. Chama-se O Mar que toca em ti e relata o seu regresso a Pemba, ex-Porto Amélia e uma das baías mais lindas que há – contam todos que a conhecem e não eu, pois a minha motorizada nunca chegou a tanto, tão longe e tão pouco tempo independente que tive. Logo no primeiro mail que lhe enviei após tê-lo terminado disse-lhe, mais ou menos assim, que este era o livro que eu um dia gostaria de escrever, quando (se...) voltar a Maputo, a minha velha Lourenço Marques. Sei lá se choque duro demais ou só emoção. Mas indiferença é que não, nunca. E a Inez Andrade Paes conta, escrito com suavidade mas também com os sentimentos à flor dos dedos, conta e enleva-nos nas belezas que transmite pois, se o seu olhar vagueou tão terno e doce no olhar em volta, às memórias, não estão fechados mas sim indulgentes, tais como os duma irmã para com os irmãos, um corpo animal que, lá e de repente, sentiu que era ali que pertencia, “regressara”. Um daqueles livros que se fecham com o olhar perdido e um sorriso.
Quando estive uma semana em Espanha, Punta Umbría (alguns posts aí para baixo, sem links), foi o barmen a quem dava ‘secas’ sempre que podia, uma tarde e duas cervejas em que com ele praticava os livros e o espanholês, que me deu a dica e recomendou. Falou-me no Arturo-Pérez Reverte, e no seu Capitão Alatriste. Isto a propósito de, então, como andava a saltitar diariamente os jornais espanhóis à procura de tudo o que não sabia, ter-lhe dito que, em muito contrário ao que esperava, estava a gostar mais das crónicas do Reverte (no “El Mundo”) que das da minha muito admirada Rosa Montero (“El País”), mãe daquele portento chamado “A Louca da Casa”, santinha dos meus santinhos desde que o li. Vim a encontrá-lo por cá, até penso que em gesto agradável da ASA para comigo e todos os que se encantaram com ele, ela providenciou logo a sua tradução e edição após um assopro internacional num hotel de quatro estrelas à beira de águas, águas que mal frequentei pois tinha muito mais que fazer, ver, saber, e tentar escrevê-lo.
Caramba, leiam-no! Todos os que leram “Os 3 Mosqueteiros” e o “Vinte anos depois”, até um cheirinho a “O conde de Monte-Cristo” devem lê-lo, eu senti-me como com os meus dez anos, feliz e empolgado com as aventuras. Deste, "Monte Cristo", e duma ligação curiosa entre o personagem ‘abade Faria’ – que existiu realmente, missionário na Índia, e um amigo que aqui vive e que contou-me ainda ter uma ligeira descendência do abade Faria, contarei um dia. Ele residiu em Moçambique, ou no Chimoio ou em Tete.
Já a deveria ter referido no primeiro post, e disso tive logo consciência quando com ela troquei recente e-correspondência e me lembrei de como tinha gostado do seu livro. Chama-se O Mar que toca em ti e relata o seu regresso a Pemba, ex-Porto Amélia e uma das baías mais lindas que há – contam todos que a conhecem e não eu, pois a minha motorizada nunca chegou a tanto, tão longe e tão pouco tempo independente que tive. Logo no primeiro mail que lhe enviei após tê-lo terminado disse-lhe, mais ou menos assim, que este era o livro que eu um dia gostaria de escrever, quando (se...) voltar a Maputo, a minha velha Lourenço Marques. Sei lá se choque duro demais ou só emoção. Mas indiferença é que não, nunca. E a Inez Andrade Paes conta, escrito com suavidade mas também com os sentimentos à flor dos dedos, conta e enleva-nos nas belezas que transmite pois, se o seu olhar vagueou tão terno e doce no olhar em volta, às memórias, não estão fechados mas sim indulgentes, tais como os duma irmã para com os irmãos, um corpo animal que, lá e de repente, sentiu que era ali que pertencia, “regressara”. Um daqueles livros que se fecham com o olhar perdido e um sorriso.
Quando estive uma semana em Espanha, Punta Umbría (alguns posts aí para baixo, sem links), foi o barmen a quem dava ‘secas’ sempre que podia, uma tarde e duas cervejas em que com ele praticava os livros e o espanholês, que me deu a dica e recomendou. Falou-me no Arturo-Pérez Reverte, e no seu Capitão Alatriste. Isto a propósito de, então, como andava a saltitar diariamente os jornais espanhóis à procura de tudo o que não sabia, ter-lhe dito que, em muito contrário ao que esperava, estava a gostar mais das crónicas do Reverte (no “El Mundo”) que das da minha muito admirada Rosa Montero (“El País”), mãe daquele portento chamado “A Louca da Casa”, santinha dos meus santinhos desde que o li. Vim a encontrá-lo por cá, até penso que em gesto agradável da ASA para comigo e todos os que se encantaram com ele, ela providenciou logo a sua tradução e edição após um assopro internacional num hotel de quatro estrelas à beira de águas, águas que mal frequentei pois tinha muito mais que fazer, ver, saber, e tentar escrevê-lo.
Caramba, leiam-no! Todos os que leram “Os 3 Mosqueteiros” e o “Vinte anos depois”, até um cheirinho a “O conde de Monte-Cristo” devem lê-lo, eu senti-me como com os meus dez anos, feliz e empolgado com as aventuras. Deste, "Monte Cristo", e duma ligação curiosa entre o personagem ‘abade Faria’ – que existiu realmente, missionário na Índia, e um amigo que aqui vive e que contou-me ainda ter uma ligeira descendência do abade Faria, contarei um dia. Ele residiu em Moçambique, ou no Chimoio ou em Tete.
O capitão Alatriste é uma figura, e naquele estilo e com uma fluência e musicalidade muito raras, Reverte escreveu verdadeiras páginas de encantar. Por isso e em linha de espera, dele, estão agora mais três, um deles vindo da tal feira da minha desgraça.
Agora tenho um Malraux na mão mas sei que não é este que quero referir. Acontece que este é dos tais que ainda não está lido e, suspeito, vai ter de esperar um bom bocado; o outro chamara-me a atenção por ser acerca dum tema actual e preocupante, os fundamentalismos, as diferenças e os choques entre, principalmente, cristianismo e islamismo, dois profetas do mesmo, tantos fiéis contradizendo-se, tantas costas voltadas. Mas não o encontro, é dos fininhos e não lhe vejo a lombada em lado nenhum nem está no cantito que, um pouco idealmente pois isto é uma feira da ladra em má organização, lhe estaria destinado para assistência a longas sestas e estações.
Agora tenho um Malraux na mão mas sei que não é este que quero referir. Acontece que este é dos tais que ainda não está lido e, suspeito, vai ter de esperar um bom bocado; o outro chamara-me a atenção por ser acerca dum tema actual e preocupante, os fundamentalismos, as diferenças e os choques entre, principalmente, cristianismo e islamismo, dois profetas do mesmo, tantos fiéis contradizendo-se, tantas costas voltadas. Mas não o encontro, é dos fininhos e não lhe vejo a lombada em lado nenhum nem está no cantito que, um pouco idealmente pois isto é uma feira da ladra em má organização, lhe estaria destinado para assistência a longas sestas e estações.
Como reparo de leitura dizer que trinta ou quarenta anos depois Malraux não podia ter as mesmas palavras, aquele ‘discurso’ é histórico à época, como ensino de que nem as mentes mais curiosas e intelectualmente preparadas podem acreditar que o futuro deixa sempre pistas no passado suficientemente visíveis e explicáveis para se conjurar sobre hipóteses, nada mais que coisas vagas, o amanhã não tem cores antes de acordar. Mas li-o e nem me lembro do nome e não sei onde está.
O Kapka é o que foi. Ler com dezoito, vinte, vinte e picos as suas obras fundamentais, mais tarde num voltita pelo teatro interessar-me até pela versão para palco de “O Processo”, book emprestado pelo Bento Martins que era o encenador do Grupo de Teatro de Carnide mas que, soube mais tarde e após anos sem nos voltarmos a encontrar, tinha falecido. Assim estava cá e herdei-o, mas isto não é sobre direitos de usucapião, é sobre o lido: do Kapfa entraram dois que não conhecia, O Fogueiro, conto, e Reflexões. Acho que os compro muito por fidelidade ao bem que me deram, hoje não lhe dou o valor igual ao que fora para o meu gosto. Isto é matéria, também, cheira-me, daquela que o próprio Kafka qui-la destruída quando morresse, mas que o testamenteiro decidiu guardar e cá se vai lendo, há coisas bem piores e daquela cabeça podia ter saído mais alguma coisa como as outras metamorfoses, castelos e processos, américa incluída. Não foi o caso, arquive-se.
De Almeirim e arredores foram três: do meu vizinho profº Eurico Henriques, angolano de nascimento e grande impulsionador da associação de defesa do património local, Coisas Urgentes - Almeirim 1920, um levantamento histórico sobre a vida social e económica (principalmente estas, e puxadas e bem tratadas com estão dão para tudo…) de Almeirim nos começos do século XX. É um privilégio saber-se mais sobre locais que nos adoptaram e nós adoptamos com o reconhecimento de nos interessarmos pelo seu passado.
O Kapka é o que foi. Ler com dezoito, vinte, vinte e picos as suas obras fundamentais, mais tarde num voltita pelo teatro interessar-me até pela versão para palco de “O Processo”, book emprestado pelo Bento Martins que era o encenador do Grupo de Teatro de Carnide mas que, soube mais tarde e após anos sem nos voltarmos a encontrar, tinha falecido. Assim estava cá e herdei-o, mas isto não é sobre direitos de usucapião, é sobre o lido: do Kapfa entraram dois que não conhecia, O Fogueiro, conto, e Reflexões. Acho que os compro muito por fidelidade ao bem que me deram, hoje não lhe dou o valor igual ao que fora para o meu gosto. Isto é matéria, também, cheira-me, daquela que o próprio Kafka qui-la destruída quando morresse, mas que o testamenteiro decidiu guardar e cá se vai lendo, há coisas bem piores e daquela cabeça podia ter saído mais alguma coisa como as outras metamorfoses, castelos e processos, américa incluída. Não foi o caso, arquive-se.
De Almeirim e arredores foram três: do meu vizinho profº Eurico Henriques, angolano de nascimento e grande impulsionador da associação de defesa do património local, Coisas Urgentes - Almeirim 1920, um levantamento histórico sobre a vida social e económica (principalmente estas, e puxadas e bem tratadas com estão dão para tudo…) de Almeirim nos começos do século XX. É um privilégio saber-se mais sobre locais que nos adoptaram e nós adoptamos com o reconhecimento de nos interessarmos pelo seu passado.
Mais memorialista e com muita documentação fotográfica e de cópia de documentos históricos como são, a exemplo, um cartaz dum espectáculo ou uma escritura de constituição dum grupo desportivo ou duma sociedade que se propõe construir e explorar o primeiro (e único, até ao momento e não lhe vejo futuro para mais algum…) cine-teatro local. Ou um bilhete dum espectáculo, ou um recibo de jorna ou uma factura comercial. Falo do Foi isto Almeirim, de Ulisses Pina Ferreira, um belíssimo retrato desta vila em tempos em que a pipas de vinho e os ranchos eram uma realidade, havia carroças e a banda marcial e a dos bombeiros competiam entre si várias vezes ao ano, não agora que a segunda desapareceu e a primeira só sai à rua em dias de festa, e não é em todos.
O terceiro: Tudo poderia ter sido diferente, de Appio Cláudio, que não conhecia mas fui ao lançamento, na cafetaria-livraria “Copo com texto”, de cá. Fiquei com uma ideia de que será de Vale de Cavalos ou Chamusca, aqui perto. Bem, é dos tais que teve de ceder lugar. Em forma de conversa romanceada com o leitor vai desfiando pensamentos e pensamentos, reflexões que se adensam e deixaram-me a suar e a deitar vapores por excesso de rotação: já não tenho idade para isto. Ou ainda não a tenho, um dia descobrirei e eu sei onde o guardei, e pode ser que então tudo possa vir a ser realmente diferente.
Amélie Nothomb: este ano foi o Temor e Tremor, que se sucedeu a um que reputei de estupendo mas ainda não repetido, “Higiene do assassino”, depois outro em que me deixa a pedir por mais, “Metafísica dos tubos”, agora a sua saga no Japão contada nos sentimentos da primeira pessoa via memórias romanceadas da aprendizagem das diferenças culturais. Aprovado, venha mais que para ela continuo de bolso aberto, não é como a Marie Darrieussecq (ligação: francesas, escrevem) que após o extraordinário e perturbante “Estanhos Perfumes” (há post aí por baixo, algures) deu-me secas como “O bebé” e “O nascimento dos fantasmas”; tenho-lhe a loja fechada até haver zum-zum que mereça nova tentativa, a bola está do campo dela e é ela que tem de fazer a jogada que lhe permita recuperar, num jogo em que está a perder: não há tempo para ler tudo, e há os que se lixam.
É dos tais que vem ‘colado’ às revistas mas foi com agrado que paguei o suplemento para trazê-lo: as crónicas do Ricardo Araújo Pereira na “Visão”, de nome Boca do Inferno. São as tais que, na revista, têm umas frases passadas com o marcador amarelo, provocação que tem a sua piada suplementar na crítica que permite às opções do pintor. Umas já conhecidas, outras que tinham escapado: é um livro de crónicas, cada duas páginas é uma estória isolada e, desses, nunca se pode temer que a paragem na sua leitura prejudique alguma coisa.
Agora outro livro-documento acerca da nossa história recente, Abril sempre Abril. Abril que mal vivi como ele é tão falado e, razão avulsa, de que preciso mais de saber, documentar. Em forma de entrevista Melo Antunes a conversar com Maria Manuela Cruzeiro, nas minhas mãos Melo Antunes o sonhador pragmático, adquirido via meu recente reingresso no Círculo de Leitores após uns sete anos de dieta, ainda com adiposidades espalhadas por tudo o que é canto: tenho Stephen King em excesso e a série dos “tommycrooker’s” é uma seca, já por exemplo gostei de “O jogo de Gerald” e “Rose Madder” mas levei com “Misery” & companhia em cima, ao enjoo. E outros, mas não quero falar mais nisso.
Amélie Nothomb: este ano foi o Temor e Tremor, que se sucedeu a um que reputei de estupendo mas ainda não repetido, “Higiene do assassino”, depois outro em que me deixa a pedir por mais, “Metafísica dos tubos”, agora a sua saga no Japão contada nos sentimentos da primeira pessoa via memórias romanceadas da aprendizagem das diferenças culturais. Aprovado, venha mais que para ela continuo de bolso aberto, não é como a Marie Darrieussecq (ligação: francesas, escrevem) que após o extraordinário e perturbante “Estanhos Perfumes” (há post aí por baixo, algures) deu-me secas como “O bebé” e “O nascimento dos fantasmas”; tenho-lhe a loja fechada até haver zum-zum que mereça nova tentativa, a bola está do campo dela e é ela que tem de fazer a jogada que lhe permita recuperar, num jogo em que está a perder: não há tempo para ler tudo, e há os que se lixam.
É dos tais que vem ‘colado’ às revistas mas foi com agrado que paguei o suplemento para trazê-lo: as crónicas do Ricardo Araújo Pereira na “Visão”, de nome Boca do Inferno. São as tais que, na revista, têm umas frases passadas com o marcador amarelo, provocação que tem a sua piada suplementar na crítica que permite às opções do pintor. Umas já conhecidas, outras que tinham escapado: é um livro de crónicas, cada duas páginas é uma estória isolada e, desses, nunca se pode temer que a paragem na sua leitura prejudique alguma coisa.
Agora outro livro-documento acerca da nossa história recente, Abril sempre Abril. Abril que mal vivi como ele é tão falado e, razão avulsa, de que preciso mais de saber, documentar. Em forma de entrevista Melo Antunes a conversar com Maria Manuela Cruzeiro, nas minhas mãos Melo Antunes o sonhador pragmático, adquirido via meu recente reingresso no Círculo de Leitores após uns sete anos de dieta, ainda com adiposidades espalhadas por tudo o que é canto: tenho Stephen King em excesso e a série dos “tommycrooker’s” é uma seca, já por exemplo gostei de “O jogo de Gerald” e “Rose Madder” mas levei com “Misery” & companhia em cima, ao enjoo. E outros, mas não quero falar mais nisso.
Bem, Melo Antunes. Tal como os de Costa Gomes, Otelo ou Mário Soares, todos, as memórias de todos os que fizeram a Revolução. Os testemunhos pessoais dos protagonistas são ainda o melhor dos documentos pois permitem captar as emoções, adn das decisões e destas se faz história. Um livro-documento é sempre uma óptima aquisição pois nunca acaba e se arruma, é de consulta e tem de estar à mão.
Agora dois que me foram muito marcantes, e encerro a conta nem que me lembre de mais algum: os irmãos moçambicanos Dinis e António Carneiro Gonçalves, aquele conhecido literariamente por ‘Sebastião Alba’, poeta, este jornalista de eleição que morreu jovem em acidente rodoviário na zona da Manhiça, Moçambique, quando vinha para LM apanhar o avião para Lisboa, e para chefe-de-redacção do então estrondosa sensação na metrópole, o novo semanário “Expresso”. Foi no princípio de 74. Nem viu a revolução por que tanto lutara com caneta molhada em coragem, nem a sua sagração profissional e que tanto o seu valor merecia. Ambos livros póstumos, adivinho amigos empenhando-se para deixar legados de quem não teve tempo ou fortuna para os deixar a todos. A escrita de Antom, que aflorei num post anterior e que já não sei onde está para lhe meter link, e Albas, este com uma documentação fotográfica no final que muito me impressionou, além do relato pelo próprio e por quem o ia vendo e sentindo, dos últimos tempos, eremita impressionante (assustei-me, confesso).
Agora dois que me foram muito marcantes, e encerro a conta nem que me lembre de mais algum: os irmãos moçambicanos Dinis e António Carneiro Gonçalves, aquele conhecido literariamente por ‘Sebastião Alba’, poeta, este jornalista de eleição que morreu jovem em acidente rodoviário na zona da Manhiça, Moçambique, quando vinha para LM apanhar o avião para Lisboa, e para chefe-de-redacção do então estrondosa sensação na metrópole, o novo semanário “Expresso”. Foi no princípio de 74. Nem viu a revolução por que tanto lutara com caneta molhada em coragem, nem a sua sagração profissional e que tanto o seu valor merecia. Ambos livros póstumos, adivinho amigos empenhando-se para deixar legados de quem não teve tempo ou fortuna para os deixar a todos. A escrita de Antom, que aflorei num post anterior e que já não sei onde está para lhe meter link, e Albas, este com uma documentação fotográfica no final que muito me impressionou, além do relato pelo próprio e por quem o ia vendo e sentindo, dos últimos tempos, eremita impressionante (assustei-me, confesso).
Do “Antom” tenho um pormenor engraçado: tratando-se de recolha das crónicas que foi semeando pelos jornais onde passava, e atento como era à causa cultural, não raro escrevia e desancava nessa área, via “vernissages” ou aparentadas a que ia, e recordo a sova que deu no Cartaxo e Trindade, coisa que aqui na família ainda deu risota quando recordado via este livro. Mas não é esse o episódio. A folhas tantas, já na última fase em que estava no “Notícias da Beira”, faz uma crítica a um livro de poesia dum jovem e novo autor, e já estou mesmo a adivinhar o cronista em fecho de edição e sem nada de jeito capaz, a pegar no livro mais à mão e a resmungar entre dentes: “é este, tu desculpa lá pá mas vais ter de ser tu a pagá-las, sorry…”. E bumba: desanca no primeiro livrinho do meu amigo Jorge Viegas que é uma gargalhada do princípio ao fim - hoje, quarenta anos depois. Como na altura em que o li eu e ele, Jorge, encontramo-nos para uma sessão cultural sobre África no cine-teatro Sá da Bandeira, em Santarém, nesta vida de jograis literários de que de vez em quando se veste a farda, eu falo-lhe no livro e na crónica, deliciado com a cara de espanto dele pois ainda não sabia nem do livro nem que a esquecida crónica demolidora saíra do túmulo, uma vida depois... rimo-nos a bom rir e lá foi o bom do Jorge em busca do livro para guardar aquela pérola do seu passado.
Por falar em livros de poesia: na tal compra-maluca trouxe dois que se estão a mostrar imperdíveis: a recolha “2001-2005” de meu novo "vizinho" (soube-o pelos jornais, pelos jornais…) Vasco Graça Moura, que trouxe ‘toneladas’ de livros para Almeirim, o que é sempre uma óptima notícia e dá-me um conforto do caraças (ainda lhe hei-de perguntar – por aqui - a que se deve aquela fixação com as panteras, achei piada), e outro com uma recolha de Tolentino de Mendonça, que mal conhecia e de que estou igualmente a gostar muito. Poesia da boa é outra louça, é mesmo.
E está feito, foi um bom ano. E este que vem promete, só pelo que aqui tenho já engatilhado. Não fecha sem reparar que não li um único livro de Direito este ano. E se calhar no outro também, veremos no que agora virá.
E está feito, foi um bom ano. E este que vem promete, só pelo que aqui tenho já engatilhado. Não fecha sem reparar que não li um único livro de Direito este ano. E se calhar no outro também, veremos no que agora virá.

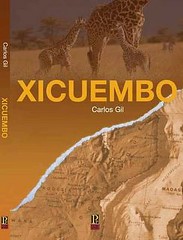

1 Comments:
lembrei-me doutro, e este foi importante: as cartas de guerra, do Antª Lobo Antunes. Um livro bom, um livro que recorda e ensina. E íntimo.
Enviar um comentário
<< Home